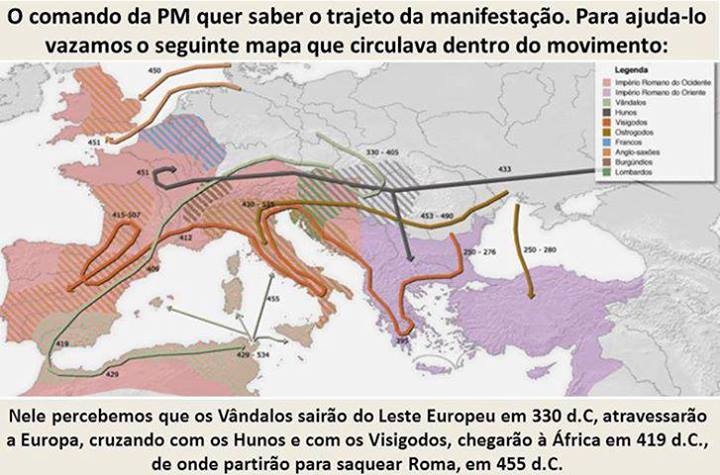Foto: Eli Simioni
Foto: Eli Simioni
Blog Posfácio
2 de setembro de 2014
por Vanessa Barbara
Nota preliminar: esta resenhista resolveu ater-se exclusivamente ao conteúdo do livro, abstendo-se de opinar sobre o assunto por questões óbvias, ainda que tétricas: na situação atual, não podemos contar com a garantia de direitos constitucionais básicos como liberdade de expressão e reunião – a julgar pelas prisões arbitrárias e pela prática de um certo “direito penal de autor”, que ocorre quando se investiga uma pessoa em busca de materialidade e autoria de condutas delituosas. Portanto, a resenha se limitará às ideias apresentadas pelo cientista político canadense Francis Dupuis-Déri, que não é brasileiro e não poderá ser alvo de investigação por formação de quadrilha armada, corrupção de menores e incitação à violência. (Pelo menos a princípio. Lembrem-se de Bakunin.)
**
Escrito por Francis Dupuis-Déri, Black blocs [Les black blocs: la liberté et l’égalité se manifestent] foi publicado originalmente em 2003, e atualizado de forma sistemática até a edição atual, de 2014. O próprio autor revela, nas últimas páginas do livro, que de início julgava que a tática black bloc estava diminuindo em tamanho e importância, mas se mostrou equivocado na previsão: cada vez mais parece ser uma “imagem do futuro” que vem ganhando força e, portanto, merece análises mais detidas e responsáveis.
Ele explica que o chamado “bloco negro” surgiu no início da década de 80 no contexto do movimento autonomista alemão – os Autonomen, que pregavam a descentralização do poder, a autogestão e a colaboração em rede, praticando uma política igualitária e participativa. Para eles, a autonomia individual e a autonomia coletiva eram complementares e igualmente importantes. Da mesma forma, os black blocs atuam segundo princípios ligados à tradição política anarquista, como liberdade e igualdade, e podem possuir ideologias variadas: marxismo, feminismo radical, ambientalismo. A estrutura é sempre horizontal e sem hierarquia – Dupuis-Déri conta que, nesse cenário inicial, seis pessoas chegaram a ser acusadas de pertencer a uma “organização criminosa” conhecida como BB. Isso aconteceu em 1981, em Frankfurt. Mas o caso foi arquivado e as próprias autoridades admitiram que a organização nunca existira.
A roupa preta é inspirada na tradição anarcopunk e representaria a solidariedade em massa a uma causa ou a resistência conjunta à opressão. As máscaras teriam como objetivo proteger a identidade dos ativistas e, ao mesmo tempo, conferir-lhes uma identidade coletiva. (Além de resguardá-los contra gás lacrimogêneo e spray de pimenta.)
No contexto de uma manifestação de rua, os BB podem ajudar a dar voz aos ativistas, sobretudo por consistirem numa força de resistência à repressão policial. Em certas ocasiões, para além da postura defensiva, eles podem decidir pela ação direta. Praticam uma espécie de vandalismo performático: quebram vidraças de instituições financeiras ou governamentais como forma de chamar a atenção para sua oposição ao que consideram símbolos do capitalismo.
Segundo Dupuis-Déri, a ação direta “é uma reação a sentimentos de injustiça e situações de opressão, desigualdade e violência sistêmica”. Seria uma tentativa de mostrar que os bens materiais não são tão importantes – Dupuis-Déri conta que muitos dos participantes dessas ações ficam surpresos com a indignação das pessoas diante de vidraças quebradas, visto que a “propriedade não sente dor”, parafraseando uma pichação em Seattle. “Não machucamos pessoas. São as corporações que machucam as pessoas”, declarou um BB entrevistado pelo autor.
O filósofo suíço Nicolas Tavaglione defende que, ao atacar propriedades públicas e privadas, os adeptos da tática black bloc forçam as elites a admitir o que valorizam mais, os bens materiais ou a vida humana e a liberdade. “O protesto nos coloca diante de uma escolha social tão velha quanto a Europa: liberdade ou segurança. Por levantarem essa questão, os BB são os melhores filósofos políticos da atualidade”, afirma.
Contudo, o assunto não costuma ser discutido de forma séria pela imprensa ou pelos acadêmicos. Em vez disso, os BBs são associados de forma indiscriminada à anarquia e à irracionalidade destruidora. A imprensa os retrata como jovens sem convicções políticas que se deixam levar e acabam se envolvendo em manifestações “mais para queimar e quebrar do que para protestar ou contestar”. Nega-se o caráter político de suas ações diretas, que são relegadas para fora do campo e da racionalidade políticos. [1]
Desde o policial e o vereador até o comunista, passando pelo ideólogo capitalista, pelo “bom manifestante”, pelo porta-voz das forças progressistas e pelo editor de jornal, todos compartilham os mesmos sentimentos e chegam às mesmas conclusões. “Câncer”, “idiotas”, “bandidos irracionais”, “anarquistas”, “vagabundos”, “desprovidos de crenças políticas”, “ingênuos”, “massa de manobra”, “covardes”… Para Dupuis-Déri,
palavras como essas têm efeitos políticos muito reais, pois privam uma ação coletiva de toda a credibilidade, reduzindo-a à expressão única de uma violência supostamente brutal e irracional da juventude.
Perspectivas aparentemente pautadas no senso comum pedem que os manifestantes “rompam relações com os vândalos infiltrados”, pois estes tirariam todo o crédito dos protestos. A mídia repete isso ao infinito, argumentando que, por causa dos BBs, a maior parte da cobertura fala das vitrines quebradas, o que acaba desviando e ofuscando as questões que os manifestantes estão tentando suscitar. A despeito disso, ninguém discute que questões são essas. “As palhaçadas deles roubaram a cena de milhares de manifestantes pacíficos que podiam ter coisas sérias a dizer sobre a divisão cada vez maior entre ricos e pobres”, disse um repórter do Los Angeles Times, ignorando completamente o teor de tais “coisas sérias”. Dupuis-Déri retruca com firmeza: “A verdade é que a mídia não está disposta a falar dessas questões. E ninguém está disposto a levar a sério as preocupações dos manifestantes pacíficos”. [2]
Para o autor, existe uma ironia na postura assumida por esses profissionais de mídia: eles poderiam muito bem escolher não cobrir o vandalismo, mas se concentrar nas “verdadeiras questões”, caso estas realmente importassem para eles, em vez de censurar os “vândalos” por desviarem a atenção da mídia (inclusive a deles próprios).
O fato é que, na cobertura da grande imprensa, mesmo manifestações pacíficas são reduzidas a algumas poucas imagens anedóticas, usando adjetivos como “amigável” para salientar o aspecto inócuo desses eventos. São raras as vezes em que o significado político de manifestações, violentas ou não, é levado a sério pelos principais meios de comunicação. Para o autor, não há dúvida de que os jornalistas adoram cobrir o espetáculo proporcionado pelos BBs e dão mais destaque a uma manifestação violenta do que a uma passeata calma e “amigável”. [3]
Ainda no campo das críticas, Dupuis-Déri examina a postura de uma certa elite progressista ou esquerdista, que considera apenas o próprio trabalho como sendo verdadeiramente importante e prioritário; portanto seria melhor que os radicais ficassem calados, seguissem as regras e se comportassem. Muitos deles acusam a tática black bloc de ser antidemocrática. Dupuis-Déri pondera que os pressupostos por trás dessas críticas “vêm de uma visão dominante segundo a qual um movimento social deve ser unificado e avançar em uma única direção determinada por líderes esclarecidos confortavelmente instalados na chefia de organizações que são, em tese, responsáveis, democráticas e representativas da sociedade civil como um todo”.
Tais críticas derivam de uma concepção diferente de democracia – fundamentalmente representativa. Para essas pessoas, alguém deve falar por todo um movimento, do qual se excluem os elementos que desviam dos padrões. Os BBs seriam considerados produtos de um desvio cultural combinado a uma patologia psicológica. Seriam como um refugo para os líderes de grupos institucionalizados que, ao se dissociarem dos “vândalos”, desejam projetar uma imagem calma, respeitável e homogênea de um movimento capaz de falar com uma única voz: a da sua elite.
Os BBs, por sua vez, veem um movimento social como algo heterogêneo, e defendem que a multidão não pode ser representada sem que seu desejo seja excessivamente simplificado pela elite que a representa. Em outras palavras, que a delegação de autoridade destrói os princípios de igualdade e liberdade, sendo indesejável se comparada ao pluralismo e à autonomia de escolha.
Em troca de recriminar os BB publicamente, os porta-vozes de movimentos progressistas esperam ser recompensados politicamente. O que pode suscitar a questão: que tipo de relação política estaria sendo instaurada quando a elite progressista pede permissão às autoridades para se manifestar, discute a rota da passeata com eles e supervisiona seus manifestantes com um conjunto de líderes? Outra questão: sempre se faz referência a grupos não controlados. Mas por quem? Pela polícia? Ou pelos organizadores e porta-vozes do movimento?
Existe a ideia de que tudo ficaria bem se os manifestantes agissem de maneira dócil e controlada. Ao que os BBs retrucam: “Não estamos aqui tentando aterrorizar o público. Nós somos o público”.
**
Durante boa parte do livro, Dupuis-Déri ressalta que é perfeitamente possível considerar a ideologia anarquista desinteressante e preferir o liberalismo, ou o pacifismo a qualquer forma de vandalismo. É possível discordar de análises e motivações políticas dos black blocs, mas a discordância não pode servir de desculpa para se recusar a examinar seriamente as ideias e a lógica dos adeptos da tática.
Dizer que eles são jovens meramente apolíticos e irracionais é, na melhor das hipóteses, preguiça intelectual e, na pior, uma mentira política.
O autor se põe a desconstruir certas ideias preconcebidas com relação aos exemplos de Mahatma Gandhi e Martin Luther King. “A história oficial atribui grande sabedoria política e moral a esses famosos defensores da ação direta não violenta. Com frequência, descreve-se que eles venceram apenas através de práticas não violentas. No entanto, tanto um quanto o outro faziam parte de movimentos amplos que incluíam atores políticos que recorriam à força e conduziam ataques armados contra a polícia e contra as Forças Armadas. Será que teriam triunfado sozinhos sem a violência de seus aliados?”, questiona.
Para ele, a história oficial dos Estados liberais modernos está repleta de ações diretas violentas, conduzidas por pessoas que hoje são aclamadas como heróis da liberdade, da igualdade e da justiça. Dá como exemplos a Festa do Chá de Boston e a Queda da Bastilha. Na queda do Muro de Berlim, destruído por jovens com martelos e marretas, “nenhum jornalista ocidental tentou minimizar a importância política desses atos violentos representando os homens e mulheres que os realizaram como jovens arruaceiros ou bandidos bêbados em busca de emoção”, observa. Ele também usa como exemplo as lendárias suffragettes, que lutaram pelo voto feminino no início do século. Uma de suas líderes, Emmeline Pankhurst, declarou que “o argumento de uma vidraça quebrada é o mais valioso na política moderna”.
Teóricos anarquistas como Emma Goldman e Peter Kropotkin mudaram de posição diversas vezes, mas sempre frisaram que a violência anarquista é muito menos letal que a do Estado. O autor parece concordar, lembrando que “as únicas pessoas que já chegaram a dar a ordem de lançar bombas atômicas em cidades eram liberais”.
Para a antropóloga Sian Sullivan, citada no livro, o uso da força e a destruição de propriedade estariam ligados à raiva contra um sistema desigual e explorador. Ele neutralizaria com eficácia algumas reações mais comuns, porém inócuas, ao sistema: primeiro, a apatia social, a passividade e o isolamento voluntário; segundo, a conclusão a priori de que a não violência é racional e eficiente, ao passo que a força militante é irracional e ineficaz.
Nesta época de pensamento único, o pluralismo de ideias apresentado por Dupuis-Déri é notável. Ele advoga pelo respeito à diversidade de táticas, citando o depoimento de um anônimo: “Sei muito bem que não tenho todas as respostas sobre o tema da escolha entre violência e não violência, então não vou impedir as pessoas de fazer o que elas querem; não quero esse tipo de poder”. Outro pondera: “Normalmente acho que quebrar janelas e lutar contra policiais é contraprodutivo, mas os participantes dos BB são meus companheiros e aliados nessa luta, e precisamos de espaço nesse movimento para a raiva, a impaciência e o fervor militante”.
Dupuis-Déri fala sobre um certo éthos da tática BB, que é de solidariedade e cuidado coletivo. E conta que existe, sim, uma atmosfera ética permeando as redes anarquistas, a exemplo do que ocorreu em 1978 em Boston, durante um protesto antinuclear. “Frente a frente com o poder quase infinito de uma usina nuclear e a força repressora da polícia com a missão de protegê-la, militantes passaram horas debatendo se o uso de alicates para abrir a cerca constituiria ou não um ato de violência. Os defensores de outras ideologias não costumam ter reservas contra o uso de equipamentos muito mais destrutivos do que alicates”, ironiza.
Dupuis-Déri considera que uma tática mais direta pode trazer benefícios, tais como: incentivar mudanças culturais em vez de apenas políticas ou econômicas; definir a direção das mudanças em vez de instaurar meros objetivos específicos; reclamar o espaço público; modificar a ênfase das questões no debate público; definir uma “ameaça crível” às autoridades instituídas. “Fundamental para o projeto de uma nova sociedade é criar novas maneiras de ser, interagir e se organizar uns com os outros”, ele completa.
**
Apenas após conhecer as origens da tática black bloc, suas motivações políticas e seu modo de atuação é que podemos avaliar com seriedade – e sem histeria – os pontos negativos e positivos desse modo de ação, além de seus efeitos nas mobilizações sociais. Só assim se tornará possível compreender o impacto político da demonização a que os BB são cotidianamente expostos – e perceber como as críticas mais irrefletidas estimulam a repressão policial.
Um exemplo disso está nos estudos do sociólogo canadense Patrick Rafail, que, analisando protestos ocorridos em seu país, afirmou que o que os manifestantes fazem ou deixam de fazer não é o fator principal para a brutalidade da polícia durante um evento. O que determina a truculência é quem seriam os manifestantes aos olhos da polícia.
Dupuis-Déri explica que, ao longo dos anos, conseguiu-se construir publicamente a imagem do “anarquista criminoso” como uma ameaça à segurança e à ordem, como se este fosse um prototerrorista. A mídia ajuda a ampliar essa percepção, influenciando diretamente na intensidade da repressão. Isso serviria inclusive para justificar as operações “preventivas” da polícia contra os ativistas, que podem atingir um grau de criminalização absolutamente desproporcional às ações dos BBs.
A título de exemplo, ele menciona a famigerada mesa sobre a qual a polícia dispõe, para o deleite da imprensa, uma variedade de equipamentos apreendidos com os manifestantes. “Qualquer um pode notar que os objetos em exibição são em sua maioria inócuos: grampeadores e tesouras (para fazer cartazes), chocalhos, panelas, potes e baquetas (para tocar música), pedaços de pau para erguer cartazes e bandeiras, alto-falantes e garrafas de água.” Segundo ele, a polícia se esforça para ampliar a ameaça representada pelos manifestantes em geral e pelos BB em particular. Ela comparece a protestos munida com capacetes, escudos, uniformes à prova de chamas, balas de borracha, bombas de fumaça, gás lacrimogêneo, espadas e armas de fogo, e não raro apoiada por cães, cavalos, viaturas blindadas, helicópteros. Exagera essa ameaça para justificar a repressão e as prisões em massa.
Ou seja: ao repetir o mantra de que os “vândalos” não passam de jovens irracionais que entram na luta por puro desejo de quebrar tudo, os jornalistas e porta-vozes de organizações, mesmo de esquerda, não fazem mais do que incitar a histeria pública e alimentar a demanda de maior violência policial. Da mesma forma, ao procurar se dissociar dos “baderneiros” a todo custo e negar-lhes qualquer relevância política, os líderes dos movimentos progressistas criam um vácuo político em torno desses “jovens vândalos” e reforçam sua identificação social como elementos marginais, fora dos padrões. Dessa forma, os policiais pressupõem que estão livres para agir como bem entenderem, e, com frequência, são levados pelo entusiasmo da repressão, atacando BBs não violentos ou brutalizando e prendendo um grande número de manifestantes pacíficos.
Isso não vai acabar enquanto não houver mais análises sérias e aprofundadas da tática black bloc, que não se limitem a repetir a mesma ladainha: “vândalos”, “bandidos” e “baderneiros”.
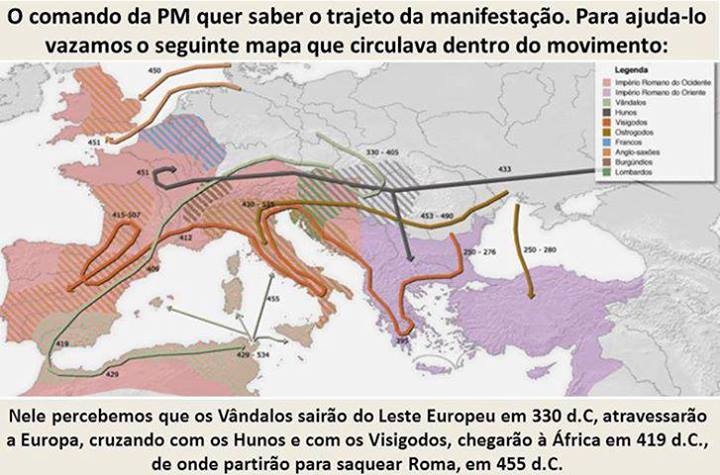
Notas
[1] Segundo Dupuis-Déri, as poucas críticas que estimam o valor ideológico de ações diretas usam critérios alheios a tais gestos, comparando-os, por exemplo, a tratados de filosofia política e social. Para muitos de seus adeptos, a tática black bloc possibilita que eles expressem uma visão de mundo e uma rejeição radical ao sistema político e econômico, mas nem por isso são ingênuos a ponto de achar que essa ação possa desenvolver uma teoria geral da sociedade e da globalização capitalista.
[2] Ele também acha inacreditável que meia dúzia de black blocs tenham o poder de, quebrando algumas vidraças, desviar a atenção dos políticos de questões importantes sobre política.
[3] Para o autor, a postura dos jornalistas em relação à violência depende muito de quem a emprega. Eles costumam ser bem tolerantes quando a violência é usada por forças policiais ou por manifestantes “cultos” de países estrangeiros. Mas condenam a violência dos “outros” e a expressam com rótulos pejorativos: extremistas, irracionais, bandidos, vândalos, sem quase nenhuma referência a suas motivações políticas.