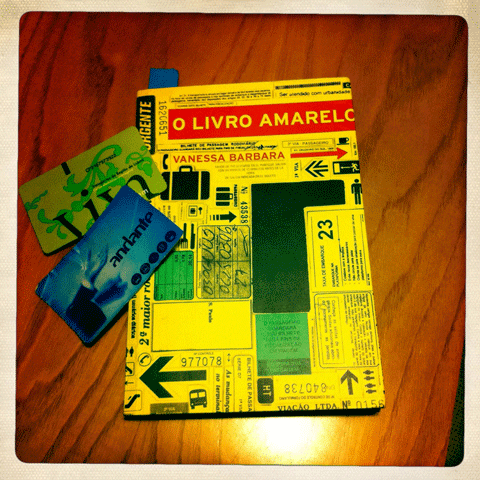Quando, há cinco meses, recebi um convite para participar do Festival Literário de Macau, a única resposta possível foi: Por que não? Se a ideia é mudar de ares, nada melhor do que ir o mais longe possível, mais exatamente a 18 014 quilômetros, que é a distância entre o bairro do Mandaqui (Zona Norte de São Paulo) e Macau.
Confesso que tive de abrir um mapa–múndi para descobrir onde ficava a tal península, na costa sudeste da Ásia, ex–colônia portuguesa e atual região administrativa especial da República Popular da China. Embora os idiomas oficiais sejam o português e o cantonês, nas ruas ninguém fala uma palavra reconhecível. Macau é delimitada por Hong Kong, Guangzhou, Zhuhai e Shenzen. Ao leste temos Taiwan, ao sudeste as Filipinas e, ao sul, o Vietnã.
A moeda oficial é a pataca, indexada ao dólar de Hong Kong. Conhecida como “Las Vegas do Oriente”, Macau tem uma economia lastreada no turismo e em cassinos – enormes edifícios revestidos por camadas de neon piscante que funcionam madrugada adentro, assegurando que há sempre alguém mais acordado, mais perdido no calendário e mais rico do que você em algum lugar. É a região com a maior densidade populacional do mundo (19,84 pessoas por metro quadrado, segundo o Banco Mundial).
Fora isso, eu nada sabia quando embarquei no Aeroporto Internacional de Guarulhos, numa terça de madrugada, com 18 quilos na mochila só de livros, prestes a encarar um voo de catorze horas até Dubai, mais três horas e meia aguardando no aeroporto, oito horas até Hong Kong, duas horas de espera e, por fim, um ferryboat.
O piloto da Emirates também parecia confuso, tendo anunciado de repente: “Passageiros cujo destino final é Dubai esta noite… manhã… não, tarde… enfim!, devem apanhar a bagagem na esteira de número…”
Vinte oito horas e meia depois, sem saber o dia da semana (era quinta-feira), cheguei ao destino e fui para o hotel, onde passei a sexta-feira dormindo.
O FESTIVAL
A segunda edição do Rota das Letras, o Festival Literário de Macau, reuniu escritores lusófonos e chineses, além de músicos, atores e cineastas. Criado em 2012 pelo jornal Ponto Final, o evento deste ano se estendeu por sete dias de março, com palestras e apresentações nas escolas, universidades e institutos culturais. Foi um curioso simpósio de tons vagamente surrealistas, que pode ser resumido numa única piada:
“Estavam uma brasileira, um português, um timorense, um surdo e um canadense conversando numa rotatória em Coloane quando…”
(O resto da piada eu não sei porque o ônibus passou e tive de sair correndo para pegá-lo.)
Outra boa forma de resumir o festival é descrevendo a mesa de abertura, ocorrida na tarde do dia 10, com a participação de quase uma dezena de autores falando sobre “Influências e perspectivas dos escritores num mundo globalizado”. O debate durou duas longas horas e teve tradução simultânea em português, inglês e cantonês – a sensação, porém, era de que os três idiomas estavam sendo falados ao mesmo tempo e de trás para a frente, tamanha a confusão. A tradutora do português, coitada, estava tão perdida que quase fui lhe oferecer um abraço.
Em falas curtas, os convidados fizeram o possível para trazer unidade à discussão: o diretor da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), Mauro Munhoz, falou sobre festivais literários em cidades de porto; o timorense Luís Cardoso observou que, em matéria de globalização, o melhor é pensar no que temos a oferecer, e não a perder; e o angolano José Eduardo Agualusa mencionou um vídeo no YouTube em que um estrangeiro executa à perfeição uma dança típica de Angola. “Sendo que este imigrante chinês sabe dançar o kuduro muito bem”, afirmou, taxativo, e sua fala fez todo o sentido.
A mim coube a participação em dois debates, cujo tema só me informaram ao chegar. A primeira mesa, na Universidade de Macau, foi dirigida aos estudantes do departamento de inglês e contou com a presença do seriíssimo Pan Wei (China), o simpático Luís Cardoso (Timor Leste) e a louquíssima Hong Ying (China), que tirou uma foto nossa com o smartphone durante a palestra, postou na rede social Renren e recebeu curtidas imediatas de uma galera da fileira de trás da sala. Foi um dos pontos altos da viagem: receber um feedback instantâneo, barulhento e em chinês no decorrer da própria palestra.
Que, aliás, ocorreu no mais autêntico e vergonhoso “Macarronic English”. Com um detalhe: Pan Wei não falava inglês e a organização só havia enviado uma tradutora chinês–português, embora a plateia fosse quase que exclusivamente composta de anglófonos. Cogitou-se a tradução em duas etapas (chinês–português e português–inglês), mas felizmente uma aluna fez a ponte para o idioma final. Não havia mediador, nem tema específico.
Ainda assim, a mesa fluiu bem e não foi preciso defender-se de possíveis objetos arremessados pela turma do fundão, como temia Luís Cardoso, com quem posteriormente saí para almoçar e testemunhar um casamento entre desconhecidos na Igreja São Francisco Xavier, em Coloane, onde o hospedaram.
Em tom de galhofa, ele passou os dias se apresentando como vice-rei de Coloane – uma simpática ilha a quarenta minutos do Centro, ligada a Macau por uma ponte. Outros autores foram alocados em hotéis na ilha de Taipa e arredores, bons mas distantes entre si e do Centro. Houve muita reclamação e alguns convidados decidiram ir embora mais cedo. “Falta de chá, falta de respeito pelos autores e muita ignorância”, declarou um dos escritores. Eu, por sorte, fiquei no Centro e não tive do que reclamar nesse quesito.
A segunda palestra foi um completo desastre. Fui destacada para uma mesa no penúltimo dia ao lado de Valter Hugo Mãe (Portugal), Paulina Chiziane (Moçambique) e Antoine Volodine (França). O tema era: “As literaturas dentro da literatura de expressão portuguesa”, e preparei às pressas um material sobre a crônica. A partir das poucas pistas que me deram, pensei em falar desse gênero que se desenvolveu com suas peculiaridades no Brasil, mas acabei não aproveitando nada.
Logo de início, a moderadora portuguesa me apresentou da seguinte forma: “À minha direita está Vanessa Barbara, escritora brasileira de quem não sei muita coisa além de que é muito jovem, como vocês podem ver, e escreveu alguns livros que não tive oportunidade de ler.”
Mais tarde, ela me perguntou algo sobre a ética inerente às literaturas de expressão portuguesa que eu, juro, quase me levantei e disse: “Minha senhora, eu não faço a menor ideia de como responder a essa pergunta.” Acabei conseguindo encaixar umas coisas sobre crônica aqui e ali, mas basicamente só falei nada com nada. Houve uma porção de perguntas sem rumo e, a certa altura, o autor francês declarou que a humanidade não tinha esperança e estava próxima do fim. Eu me afundei na cadeira, torcendo pelo Apocalipse.
MACAU: NOODLES COM FANTA UVA
Cada um por si, os escritores do festival foram explorando pontos turísticos macaenses, como o largo do Senado (uma pracinha com chão de pedras portuguesas e lojas de grife), o jardim Lou Lim Leoc (tranquilo e superpovoado de tartarugas aquáticas), o templo de A-Má, a Fortaleza do Monte, a estátua de Kun Iam e as famosas Ruínas de São Paulo (fachada de igreja incendiada que é como um portal para outra dimensão, um cenário de Hollywood sem fundo).
Sozinha, fui a uma sessão do planetário, experimentei carne de porco crua e quadrada, vi os pandas-gigantes de Coloane, comprei um sapato tipo chinesinha, passei por uma igreja pentecostal Deus É Amor e aproveitei meu nababesco quarto de hotel, que era maior do que a minha casa. (Dava pra andar de bicicleta lá dentro.)
No Jardim de Camões tirei as meias e tentei andar por um caminho de pedras redondas, utilizado como massageador de pés. Tive de segurar na cerca, avançar bem devagar e a cada passo conter um “Ai! Ai!”, sob a chacota generalizada dos locais. Aprendi que os velhinhos chineses costumam levar seus pássaros para passear todas as manhãs e penduram as gaiolas nas árvores. Descobri que Paulina Chiziane adora girafas e que o macarrão cantonês precisa ser elástico, ou seja, você deve poder esticá-lo sem quebrar. Tirei fotos da Venda de Bolinhos Kuong Hou Tai Iat Ka e da Sala de Explicações Pat Mui. Frequentei todas as barracas de pijamas de flanela. Explorei o Mercado de São Domingos com uma jornalista macaense que adorou a palavra “rural”, cuja pronúncia em inglês é realmente engraçada. Me identifiquei com a Igreja de Santo Antônio, “construída em 1638, incendiada em 1809, reconstruída em 1810, de novo incendiada em 1874, reparada em 1875”.
Jantei um prato enorme de noodles com Fanta Uva na companhia de um casal desconhecido de chineses que alternava cantonês e inglês numa conversa desvairada. Eles perguntaram se o Brasil ficava na Europa, me ofereceram wontons com molho agridoce e no final pagaram a conta. “A hospitalidade de Macau! Conte para os seus amigos. Nós somos legais”, ela dizia, animada.
Flanei pelos salões do maior cassino do mundo, The Venetian, na companhia de dois músicos croatas, que riam sem parar das ridículas réplicas da cidade de Veneza. O gigantesco complexo fica em Taipa e é conhecido por obter um faturamento anual maior do que o de todos os cassinos de Las Vegas juntos. Dentro há canais com gôndolas, casas de mentira e um falso céu azul. Gondoleiros filipinos soltam a voz. “E cantam muito bem, os danados”, atestaram Ines Trickovic e Joe Pandur.
A maioria absoluta dos turistas dos cassinos vem da China continental. São autorizados pelo governo a levar no máximo 20 mil yuans para fora do país (7 mil reais) e retirar até 10 mil yuans por dia no caixa eletrônico. Diante das limitações, muitos recorrem às casas de penhores. Os salões de jogos estão sempre abarrotados de chineses, alguns com pinta de mafiosos, e para percorrê-los é preciso suportar os olhares zangados dos seguranças e quebrar uma quase sólida nuvem de fumaça de cigarro. Os jogos mais populares são o bacará, o vinte e um, a roleta e o fan tan.
Em Macau descobri que é proibido andar de boné nos cassinos por causa das câmeras de reconhecimento facial, e também que as janelas dos hotéis são lacradas para evitar suicídios de apostadores desiludidos. Quem quiser abri-las deve assinar um termo de responsabilidade em que supostamente se comprometeria a não atentar contra a própria vida. É uma cidade de muitas luzes, insônia e chinesas fumando na calçada com bobes na cabeça, enquanto falam ao celular.
PRESA EM MACAU
Então fiquei presa em Macau. A ideia original era conhecer Hong Kong, depois Hainan e Pequim, mas para isso eu precisaria obter um visto de entrada específico. Como a organização do festival só emitiu a passagem quatro dias antes da partida, perto de um fim de semana, não pude solicitar tal visto em São Paulo. Então, em Macau, fui ao Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, onde preenchi formulários e apresentei a passagem de volta, reservas de hotéis e seguro-saúde. Disseram-me que o visto demoraria duas semanas e só valeria por sete dias. A ilha de Hainan foi imediatamente cortada do roteiro.
Terminado o festival, no domingo, o plano B era tomar o ferry rumo a Hong Kong, passar uma semana lá e voltar a Macau para buscar o visto. Hotel reservado, passagem comprada, mala despachada. Usei naturalmente meu passaporte português, pois o brasileiro estava retido no Comissariado. Contudo, na saída de Macau, uma surpresa: não me deixaram passar. Segundo uma regra escrita em algum lugar, deve-se sair de Macau com o mesmo passaporte da entrada. Mostrei o recibo do Comissariado que reteve meu passaporte brasileiro. Mostrei o passaporte português perfeitamente válido. Mostrei meu carimbo de entrada, num papel separado. Mostrei meu comprovante de vacina contra febre amarela. A resposta, no ininteligível inglês macaense: “Meu chefe decidiu que você não vai para Hong Kong.” E, apontando para o saguão de entrada: “Já pra fora! Out!”
Não adiantou chamar Fish Ho, o chinês faz-tudo da organização do festival, nem apelar para a cara de cachorrinho pidão: fui para um hotel passar a noite e esperar a chegada da segunda-feira, quando o Comissariado estaria aberto.
De manhã, o funcionário informou que não devolveria meu passaporte, pois estava em processo de solicitação de visto. Tentei explicar em inglês (que ele pouco entendia) e com vigorosas mímicas que eu não queria mais o maldito visto, só a minha liberdade e, talvez, um cafuné. Ao final, consegui entender que ele me liberaria o documento se eu apresentasse um bilhete de ferry marcado para aquela tarde. Por pura falta de perspectivas e desânimo existencial, andei até o terminal, comprei o tal bilhete e retornei ao Comissariado, onde o bom chinês me presenteou com o passaporte e um visto de urgência. Fui liberada para embarcar com destino a Hong Kong naquela mesma tarde, onde passaria ainda uma semana antes de viajar a Pequim.
HONG KONG: MEIAS SUICIDAS
A coisa mais interessante de Hong Kong são as roupas caídas dos varais, enganchadas em vigas de ferro e recônditos inacessíveis das fachadas dos prédios. Por falta de espaço, os moradores dos apertados edifícios penduram suas roupas lavadas para fora das janelas. Vez ou outra, uma camisa ou meia se desprende com o vento e tomba de lá de cima, ganhando a rua. Em alguns casos, fica pelo caminho, presa num fio ou num poste de luz. Grande diversão é percorrer as ruas olhando pra cima, identificando aqui e ali uma blusa verde estrebuchada num telhadinho e uma camiseta órfã sobre um aparelho de ar-condicionado, ainda com o pregador de madeira grudado. Ideia para ficar rico em Hong Kong: abrir um serviço de resgate de roupas com uma vara de bambu bem comprida ou uma escadinha de bombeiros.
Assim como Macau, Hong Kong também foi colônia europeia (no caso, britânica) e hoje é região administrativa especial da China, com um sistema político independente. Ao longo da última década, firmou-se como um forte centro financeiro internacional.
É um território superpovoado e verticalizado com uma das skylines (silhueta de edifícios ao horizonte) mais impressionantes do mundo. São 112 edifícios com mais de 180 metros de altura, incluindo o quinto maior prédio do mundo, em Kowloon; a imponente sede do HSBC, projetada pelo arquiteto britânico Norman Foster; a icônica sede do Banco da China, executada por I. M. Pei; e o edifício em que o Batman aterrissou estrondosamente a fim de sequestrar o contador do mal, em Batman – O Cavaleiro das Trevas (de Christopher Nolan, 2008). Todas as noites há um espetáculo de som e efeitos especiais chamado “Sinfonia das Luzes”, em que os prédios da ilha acendem e apagam em ritmo de música clássica.
Assim como São Paulo, Hong Kong é uma cidade coalhada de carros, viadutos e pontes, onde o pobre andarilho é obrigado a fazer desvios quilométricos, atravessar sinuosas passarelas, subir escadarias, singrar viadutos pelo acostamento, passar por baixo de uma cama de gato e por cima de uma cama de pregos só para mudar para o lado de lá da rua.
Os ônibus, contudo, são eficientes e fáceis de utilizar, com letreiros em inglês, mapas das linhas que atendem a determinado ponto, avisos de próxima parada e uma grande frota servindo todo o território. O metrô é igualmente eficiente – e cheio.
PRAGAS SOB ENCOMENDA
Em Hong Kong encontrei uma profusão de andaimes de bambu até nos edifícios mais altos, duas estátuas de um porco feliz, meia dúzia de riquixás à venda (falar com o sr. Hung pelo tel. +852 63839439), uma estátua do Bruce Lee, um estabelecimento que se intitula Alfaiate Muito Bom, uma loja chamada Sofa So Good e um agasalho do Corinthians à venda numa banca minúscula e aleatória numa travessa da Nathan Road, em Kowloon. Dancei lindy hop num bar de jazz e tomei um chute na canela de um coreano, vi franceses sacolejando ao som de Bate Forte o Tambor, da banda Carrapicho, subi o Victoria Peak de ônibus e andei num simulador de gravidade lunar no Museu Espacial.
Comprei um repelente de insetos à base de tomate, que promete “confundir os mosquitos na hora de reconhecer os seres humanos”. Vi uma senhora respeitável conversando na calçada com uma amiga, vestida de pijama e tênis.
No aeroporto fiquei intrigada com o aviso: “Tirem seus chapéus para controle de temperatura.” Quando da entrada em Hong Kong, é preciso passar por um sensor infravermelho que mede o calor humano. Dois funcionários de máscaras monitoram e barram os indivíduos mais esquentadinhos. Deve-se tirar o chapéu para mostrar que o cocuruto está bem e que você não trouxe consigo nenhuma espécie de febre aviária, réptil ou mandaquiense.
Meu hotel tinha uma máquina de escrever para alugar e ficava no bairro cosmopolita de Mid-Levels, zona residencial servida pela maior escada rolante do mundo, com 800 metros de comprimento. A Central Mid-Levels Escalator liga uma porção de ruas morro acima e é ladeada por bares, restaurantes e lojinhas. Mais tarde, tive de me mudar por causa de um campeonato internacional de rúgbi – que lotou os hotéis – e fui para um estabelecimento em Wan Chai, onde a grande atração era um deslocado centro de convivência para idosos no 2º andar.
Foi perto dali, debaixo da passarela de Canal Road, que finalmente encontrei as cursing ladies, senhorinhas que rogam pragas sob encomenda. Por 60 dólares de Hong Kong (cerca de 17 reais), elas amaldiçoam quem você quiser – o esconjuro pode ser direcionado a um indivíduo específico ou a um grupo. O interessado preenche um formulário–padrão em forma de corpo humano e explica a situação à boa senhora, que começa a fazer coisas estranhas tipo queimar objetos, dar banha de porco a uma dobradura de tigre e bater com um sapato no papel. O nome do ritual é da siu yan, ou seja, “dando uma sova nessa gentalha” (tradução livre).
A praga tem duração variável em consonância com o valor pago, podendo vigorar de uma semana a toda a eternidade. “Consulte a sua cursing lady para maiores detalhes.”
PEQUIM: CUSPE IN CONCERT
Desembarquei em Pequim no dia 24 de março, pouco depois de uma inesperada frente fria. A primeira coisa que vi não foi a Muralha: foi a neve. “Índia mandaquiense não conhecer neve”, expliquei para o meu guia e intérprete, Daniel, enquanto chafurdava num montinho de gelo.
A capital chinesa é uniformemente cinzenta. Em janeiro, o índice de poluição chegou a ultrapassar 45 vezes o limite considerado seguro pela Organização Mundial de Saúde (OMS), contaminando fontes de água potável e gerando problemas sociais e de saúde. Depois da neve, a situação melhorou um pouco, mas não muito. Os cidadãos andavam pelas ruas com máscaras cirúrgicas e era difícil enxergar. No meu quarto de hotel, ao lado dos amendoins, havia duas máscaras respiratórias para utilizar em incêndios, mas que eu quase empreguei no dia a dia. Segundo as instruções, após ajustar as tiras atrás da cabeça, deve-se “escolher um caminho e correr resolutamente para salvar sua vida”.
É uma cidade hostil para introvertidos, já que os turistas são incansavelmente abordados por pessoas vendendo bonés, bandeirinhas, bolsas, passeios turísticos, caronas de riquixá e livros vermelhos. Nas lojas, basta fixar o olhar despreocupadamente numa camiseta para ser assediado por uma vendedora estridente de calculadora em punho, gritando: “70! 70!” Se por acaso o sujeito transfere o olhar para um sapato, a moça brada: “Sapato? Sapato 100 pra você!”
Em caso de fuga, ela faz questão de puxar o indivíduo de volta pelo braço, repetindo “10! 10!” pela mesma camiseta que custava 70 yuans minutos atrás. O mesmo acontece com os camelôs, massagistas de rua, comerciantes de iogurte e outros.
Em Pequim quase ninguém fala inglês, nem mesmo os taxistas. Por isso é importante trazer consigo um cartão do hotel com indicações em chinês e algumas frases básicas em ideogramas, além de um smartphone com um aplicativo chamado Pleco. É muito perturbador ser analfabeta em mandarim, e até agora não sei por que dois taxistas se recusaram a me levar de volta ao hotel a partir do parque Jingshan. Só o que entendi foi “não, não” e a porta se abrindo. Também não compreendi o teor da briga (aos gritos) entre meu guia turístico e o motorista, mas tenho quase certeza de que era a meu respeito e fiz questão de gravá-la para pesquisas posteriores. Outro problema: o letreiro dos ônibus é escrito só em ideogramas.
Em território revolucionário vermelho, driblei as restrições da internet usando um serviço de Virtual Private Network (VPN), que conecta o computador virtualmente a uma rede local norte-americana e mascara o lugar físico onde ele se encontra. Assim pude acessar livremente o Google, o Facebook, certos jornais estrangeiros e o SongPop, joguinho virtual de adivinhação de músicas, que por algum motivo também é bloqueado.
A despeito das dificuldades, Pequim é tremendamente interessante. Na Cidade Proibida pode-se visitar o trono do imperador, o Jardim Imperial, o Hall da Elegância Literária e dezenas de casinhas com telhados cor de laranja; há também o suntuoso Palácio de Verão, o Mausoléu de Mao Tsé-Tung, o estádio Ninho de Pássaro e a praça Tiananmen, onde se veem guardas armados e detectores de metal por todos os lados.
Cospe-se muito na China. Há cinco anos, o escritor Antonio Prata foi a Xangai e descobriu que o governo estava engajado numa campanha para erradicar a escarrada no país. Queriam chegar à Olimpíada de 2008 com pelo menos 20% a menos de catarro nas ruas, mas, pelo visto, a luta continua. Em lugar de “Proibido fumar” ou “Não pise na grama”, o que mais se lê é “Proibido cuspir”. Não raro os arredores do aviso estão cercados de pequenas poças salivares.
FUTEPETECA E REPOLHO DE JADE
Apesar de soar uma redundância, impressionante mesmo é a Grande Muralha da China, edificação que vai serpenteando pelos picos gelados das montanhas feito um dragão, a perder de vista. Visitei a seção Remanescente de Badaling (Badaling Remnant Great Wall), onde, ao contrário da parte principal, não se avista um único turista em quilômetros. O local também não possui infraestrutura, o que contribui para a sensação de isolamento e imensidão.
Durante horas eu e o guia subimos e descemos ladeiras íngremes e escadarias de pedra, exploramos torres de observação milenares, escorregamos na neve e percorremos longos trechos da Muralha. Ele provavelmente tinha medo de altura e grudava-se às paredes nos momentos mais vertiginosos. No percurso inteiro, encontramos apenas uma família de turistas alemães e uma enorme fotografia do ator Jackie Chan em visita ao local. A sensação era de haver retrocedido 2 mil anos no tempo. Pude ouvir o exército mongol marchando ao longe e os opositores da dinastia Ming ameaçando nosso território, brandindo seus compridos bigodes.
O inglês do meu guia era truncado e a comunicação foi difícil, sobretudo nas primeiras horas do passeio – de acordo com o que entendi da explicação, o muro foi construído com latas de molho de tomate e era bastante joelho, assim como o shopping center cachorro yakult. Aos poucos, fui assimilando o sotaque e hoje ostento um curioso inglês macarrônico com toques asiáticos.
Casado, Daniel tem uma filha pequena, duas tartarugas e é fã do cinema de Hollywood. Disse que assistiu a Titanic três vezes e chorou em todas. Interessou-se pelo preço dos imóveis em São Paulo e disse que comprar uma casa em Pequim é quase impossível. Confessou que nunca saiu do país e queria aprender outras línguas.
De lá fomos a uma fábrica de jade para turistas, com repolhos gigantes esculpidos na pedra, e depois a uma degustação de chás. Jantei um caprichado pato laqueado à Pequim, com panquecas, pele crocante, molho missô e cebolinha.
Tirando a Muralha, os coloridos pôsteres de Mao, a praça Tiananmen e a Cidade Proibida, o melhor de Pequim são os parques e praças públicas, como o parque Tiantan, nos arredores do Templo do Céu. O espaço é ocupado por velhinhos exercendo práticas das mais variadas, como adeptos do tai chi, praticantes de lutas marciais com espada e bastão, grupos de ginástica, indivíduos se alongando, mulheres treinando coreografias com leques vermelhos, homens empinando pipas e brincando com bilboquês. Há um corredor imenso de gente dedicada ao carteado. Há grupos dançando em ritmos variados e uma trupe de senhoras que se reúne quase todas as noites numa praça perto da Cidade Proibida para executar dancinhas curiosas. No parque Jingshan há um espaço para tocar instrumentos musicais e cantar, onde conheci um compenetrado tocador de erhu e sua instrutora.
No parque Tiantan pratiquei o jianzi, uma espécie de futevôlei com peteca que é muito popular na China. Basta dizer que não fiz feio, embora o vento tenha prejudicado a minha performance nos momentos finais – e ainda que eu não tenha entendido as instruções em mandarim do capitão do meu time, que ria muito. Antes de partir, fui merecedora de uma garbosa peteca amarela. Todos riram muito. Espero que não tenha sido de mim.