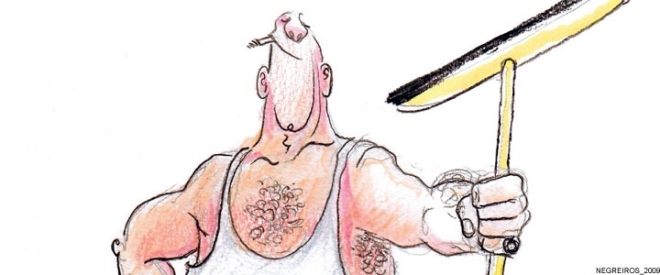O sono de Polanski
Vamos continuar chamando o fato de estupro-estupro e não nos preocupemos tanto assim com as noites do cineasta
por Jenny Diski
tradução Vanessa Barbara
Piauí n. 39
Dezembro de 2009
No início, achei apenas moderadamente interessante, num mundo repleto de acontecimentos bem mais interessantes, a notícia de que Roman Polanski havia sido preso na Suíça e seria extraditado para os Estados Unidos, por uma acusação de estupro de trinta anos atrás. Mas fui me envolvendo cada vez mais – no noticiário, no Facebook, no Twitter, no blog da London Review of Books e em conversas – na discussão entre os que acham que ele não devia ter sido preso e aqueles que pensam que deveria, mesmo depois de tanto tempo, ser enviado de volta aos Estados Unidos para cumprir sentença judicial, embora a mulher envolvida (Samantha Geimer – ela permitiu que seu nome fosse divulgado) diga agora que não quer dar continuidade ao assunto.
Tive então espasmos ao ler a petição escrita por Bernard-Henri Lévy e subscrita por Paul Auster, Milan Kundera, Claude Lanzmann, Salman Rushdie, Mike Nichols e, para citar representantes femininos, Diane von Furstenberg, as Isabelles Adjani e Huppert, Danièle Thompson e Arielle Dombasle. Nela está escrito:
Roman Polanski, detido como um terrorista comum no último sábado, 26 de setembro, à noite, quando vinha receber um prêmio pelo conjunto de sua obra, agora dorme na prisão.
Ele corre o risco de ser extraditado para os Estados Unidos por conta de um episódio que ocorreu anos atrás e cuja principal querelante já declarou, enfática e repetidamente, haver deixado de lado e abandonado qualquer interesse por uma ação judicial.
Aos 76 anos de idade, sobrevivente das perseguições nazistas e stalinistas na Polônia, Roman Polanski arrisca passar o resto da vida na prisão por atos que, na Europa, já teriam prescrito.
Pedimos à corte suíça que o liberte imediatamente, e não transforme esse talentoso cineasta em mártir de uma trapalhada político-legal indigna de duas democracias como a Suíça e os Estados Unidos. O bom senso e também a honra o exigem.
Deixemos de lado a questão de que os terroristas são comuns, em contraponto à escassez de cineastas estupradores, e como tem sido o sono de Polanski[1]. Também deixemos de lado o argumento “anos atrás” e o atual desejo da vítima de não haver ação judicial – são questões legais. E ignoremos o uso de episódio onde a palavra estupro teria sido mais precisa. Afinal, Polanski foi acusado de ter relações sexuais ilegais, e não de estupro. O abrandamento da acusação lhe foi oferecido com a condição de que ele se reconhecesse culpado, assim a garota não precisaria testemunhar em julgamento aberto. Esse foi o argumento usado por Whoopi Goldberg para exigir a libertação do diretor logo que surgiram as notícias de sua prisão, já que ele não tinha cometido um “estupro-estupro”.
O acordo entre a defesa e a acusação veio com a promessa de uma sentença de apenas quarenta dias ou menos – a fim de completar uma detenção de noventa dias para avaliação psiquiátrica e laudos sobre a liberdade condicional que fora interrompida prematuramente — e, depois, a deportação voluntária de Polanski. Quando o advogado do cineasta ouviu rumores de que o juiz quebraria o acordo, impondo uma sentença de prisão mais longa e a deportação forçada, Polanski fugiu dos Estados Unidos.
Os peticionários sugerem que a juventude sofrida do cineasta na Polônia forneceria uma espécie de explicação para que Polanski, aos 44 anos, decidisse travar relações sexuais com uma adolescente de 13 anos. É possível, mas isso não explica por que outras pessoas com um passado semelhante não fizeram a mesma coisa, ou por que gente sem um passado desfavorável agiu dessa forma. Quanto a seu talento, é evidente que há muito se pensa que os indivíduos “criativos” tendem a agir em desacordo com as normas sociais. Isso às vezes é verdadeiro, mas, a meu ver, significa que devemos julgar a obra em separado do comportamento, e não que o comportamento em si deva ser desculpado. Polanski fez filmes extraordinários, mas obras tão boas quanto Faca na Água e Chinatown não autorizam seu diretor a estuprar.
De todas as desculpas e explicações que surgiram para o comportamento de Polanski, a mais ridícula deu-se durante a audiência inicial, no relatório do agente de condicional solicitado pelo juiz:
Possivelmente desde a Itália renascentista nunca houve tamanha concentração de mentes criativas em um só local como tem sido em Los Angeles na última metade do século. Ao mesmo tempo em que enriquecem a comunidade com sua presença, essas pessoas trazem consigo os costumes e maneiras de suas terras natais, que, em raras instâncias, são discrepantes das terras que os adotaram.
(Contente-se com qualquer risada que se possa tirar dessa historinha infame.)
Quanto a sua presente condição de mártir numa “trapalhada político-legal”: o estupro foi confessado por Polanski, ninguém nega que tenha ocorrido e nem que o diretor tenha fugido quando estava em liberdade condicional, antes de receber a sentença, tendo o cuidado de não voltar aos Estados Unidos desde então. Provavelmente há outros estupradores foragidos na Europa e na América que não são talentosos cineastas e, portanto, não são procurados, o que é certamente injusto. De qualquer forma, tendo a achar que seria melhor que os procurassem, em vez de livrarem Polanski de suas responsabilidades. (Ao que tudo indica, ele ainda está devendo 500 mil dólares do acordo com Samantha Geimer.)
***
Em 1961, fui estuprada por um americano em Londres. Eu tinha 14 anos, um a mais que a garota a quem Polanski deu champanhe e meio comprimido de Quaalude, e com quem depois fez sexo oral, vaginal e anal. Em defesa de Polanski, muita gente observou que Geimer era uma modelo adolescente e que participava de uma sessão fotográfica agendada por sua mãe diretamente com o cineasta, que afirmou estar tirando as fotos para a Vogue. Como evidências extras para abrandar o crime, alguns notaram que, depois de a menina beber champanhe (encorajada pelo diretor durante a sessão de fotos), Polanski entrou numa jacuzzi e a convidou para ir junto, mas ela disse que tinha que voltar para casa. O cineasta telefonou para a mãe da menina, avisou que ela chegaria tarde e depois a deixou falar. Geimer respondeu “não” quando a mãe perguntou se queria que fosse buscá-la e, de acordo com um relato (embora não fique claro na transcrição do tribunal do júri), ela consentiu em fazer sexo oral. Ela também contou ao juiz que já havia tido relações sexuais duas vezes com o namorado, que tinha mais ou menos a sua idade.
O que chamou a minha atenção, por fim, e ganhou meu total engajamento foi a ideia de uma adolescente de 13 anos consentindo em fazer sexo oral com um diretor de cinema de 44. Não que as crianças não sejam às vezes sexuais ou mesmo, aparentemente, cúmplices no ato sexual. Ela obviamente não era inocente. (Embora a experiência sexual prévia não invalide a acusação de estupro, mesmo quando a vítima está acima da idade de consentimento.) Para fazê-la consentir, no entanto, Polanski deve ter perguntado alguma coisa. Como? Algumas perguntas parecem mais perguntas do que outras. Como será ter 13 anos e o sonho de ser estrela de cinema (tal qual a maioria das garotas dessa idade), e de repente estar na presença de um poderoso diretor, na casa de um ator famoso (Jack Nicholson), tendo bebido e tomado uma droga forte, diante da proposta de fazer sexo oral em seu ídolo ou de se prontificar para o cunnilingus?
***
Quando eu tinha 14 anos, não fui coagida ao sexo por deslumbramento e nem pelas drogas – fui constrangida a fazê-lo. Numa manhã de sexta-feira, eu estava indo a pé para a biblioteca de Notting Hill Gate, zangada depois de uma discussão com meu pai, quando um sujeito de uns 20 anos, com sotaque americano, apareceu de repente e começou a andar ao meu lado. Ele perguntou o meu nome. Eu o ignorei. Ele repetiu a pergunta algumas vezes. Aquilo costumava acontecer. O normal é continuar a andar quando um homem fala com você ou se exibe. Mas esse era muito persistente. Ele caminhou ao meu lado, disse que era cantor e que tinha escrito uma música nova. Queria saber o que eu achava dela. Quando eu disse “cai fora” pela segunda vez, ele começou a cantar. Bem alto. Hoje em dia, é claro, eu mesma poderia cantar alto na rua sem me importar com nada. Mas não é assim aos 14 anos. Fiquei desesperada. O fato de haver um homem cantando para mim em altos brados, enquanto eu andava na rua, me ridicularizava publicamente. Era óbvio que todas as pessoas do planeta estavam olhando. E rindo. Fiquei fora de mim de tanta vergonha. Pedi que parasse, ao que ele respondeu que só o faria se eu fosse até o estúdio de gravação onde ele trabalhava e o ouvisse cantar a música devidamente. Ficava ali na esquina, a poucos minutos de onde eu morava. Então ele voltou a cantar. Era amável e até engraçado, nada assustador – quando muito, insistente demais.
Eu não imaginava que um estúdio de gravação pudesse ser silencioso e vazio – pensei que haveria muita gente lá, como técnicos e pessoas à toa. Mas acho que teria ido mesmo se soubesse que estava vazio, só para fazê-lo calar
a boca. O estúdio ficava num porão a uma quadra da minha casa. Ele destrancou a porta e me deixou entrar. Fechou então a porta atrás de mim e ouvi o barulho da chave girando. O som de uma chave girando numa sala vazia é mesmo especial. Repentinamente assustada, pedi para ir embora e falei que queria voltar para casa. Mas ele enfiou a chave de volta no bolso de trás e sorriu. “Quero voltar pra casa”, disse mais uma vez, quase em pânico. “Só depois que a gente tiver se divertido um pouco”, ele respondeu. “E não adianta gritar: é um estúdio de gravação, o lugar é à prova de som.” Puxando-me pelo braço, ele me levou para dentro da sala.
Atrás de uma parede de vidro havia aquela mesa de equipamentos de gravação que a gente vê nos filmes. Na sala principal, onde estávamos, havia alguns microfones, uma bateria, uma geladeira e um sofá. Eu disse que só tinha 14 anos e ele deu risada. “Não, não tem”, ele me falou. “Tenho sim”, respondi. Ele me empurrou para o sofá e eu, já implorando – pois sabia que estava em apuros -, repeti que tinha 14 anos e era virgem. Em todo caso, eu era jovem o suficiente para acreditar que isso o faria parar para pensar. “Não, você não tem 14 anos e nem é virgem”, ele riu, enquanto erguia a minha saia. Não faço ideia se ele realmente acreditava no que estava dizendo.
Foi muito doloroso – eu não sabia que a primeira vez poderia ser assim. Gritei de dor várias vezes. Berrei o tempo todo, pedindo que ele parasse (usei bastante a expressão “por favor”). Ainda não temia pela minha vida. Ele não era violento; apenas continuava, recusando-se a parar, repetindo que eu não era virgem e ignorando quando eu dizia que estava doendo. Ele não era violento. Quer dizer, não me bateu.
Assim que ele terminou, pôs-se de pé e ajeitou a roupa. Abaixei a saia e me sentei. Ele foi até a geladeira e pegou uma garrafa de leite, oferecendo-me um gole. Quando recusei, ele bebeu quase tudo.
Depois de terminar o leite, ele me perguntou se eu queria sair para tomar um café. Mas me deixou ir para casa quando respondi que não, contanto que lhe desse meu telefone para que pudéssemos nos encontrar de novo. Ele deve ter me dito o seu nome, mas não me lembro. Então saí e andei uns 100 metros até a minha casa, onde fui direto para o quarto, tirei a calcinha e vi que havia sangue. Fui dormir.
Passei o resto da tarde na cama, cochilando e me sentindo basicamente ferida e vazia. Estava entorpecida pela experiência, mas também tinha a clara noção de que ele era muito burro de pensar que eu havia me divertido. Fiquei com uma poderosa imagem mental dele inclinando a cabeça e tomando leite. Beber leite me faz vomitar sempre. No final, minha reação solidificou-se em descaso, em vez de vergonha. Não acho que tenha sido a pior coisa que me aconteceu. Foi uma experiência ruim, doeu e eu não tinha como escapar. Mas não sinto que fui especialmente violentada pelo estupro em si, não mais do que teria sido por qualquer outro ataque desferido a mim ou a minha liberdade. Em 1961, nem é preciso dizer, ser penetrada contra a vontade era um assassinato espiritual. Tive mais nojo do que me senti envergonhada ou diminuída. Para a minha sorte, o espírito da época era diferente.
***
Ainda assim, por muitos anos, pensei no incidente como “o dia em que me deixei estuprar”.
Tinha plena consciência de ter ido voluntariamente com ele ao estúdio de gravação.
Meu “novo amigo”, como desconfio que ele devia se considerar, telefonou alguns dias depois. Meu pai atendeu, não gostou da voz dele e pediu que não ligasse de novo. Eu não havia lhe contado nada, nem falei disso a ninguém por muito tempo, apenas deixei a coisa se tornar algo que simplesmente acontecera. Cheguei a me considerar, de certa forma, culpada. Na verdade, um amigo mais velho e experiente me garantiu, anos mais tarde, que era impossível estuprar uma mulher: se a penetração ocorria, era porque ela queria. Não lhe contei sobre o estupro, mas fiquei imaginando se, nesse caso, eu devia parar de pensar naquilo como um estupro, uma vez que tinha havido penetração. Hoje já não penso mais assim, embora continue acreditando que não foi a pior experiência da minha vida.
Em busca de atenuantes, Polanski disse ao tribunal que acreditava que Samantha Geimer “não tinha sido totalmente impassível”. Ela relembrou:
Eu disse: “Não, não. Não quero entrar lá. Não, não quero fazer isso. Não!” – e depois não soube mais o que fazer. Estávamos sozinhos e eu não tinha noção do que mais poderia acontecer se eu fizesse escândalo. Então só fiquei assustada e, após oferecer certa resistência, pensei: Bem, acho que ele vai me deixar ir pra casa depois disso.
Soa verdadeiro aos meus ouvidos. Sem dúvida, Samantha Geimer (juntamente com sua mãe), assim como eu, colocou-se numa situação na qual o estupro poderia ocorrer. Talvez ela tenha correspondido, e talvez até consentido em fazer sexo oral com Polanski. Então ele a penetrou e perguntou quando fora sua última menstruação. Quando viu que ela não sabia, ou que estava constrangida demais para dizer, por via das dúvidas ele a sodomizou. Não foi gentil de sua parte? Continuemos chamando isso de estupro-estupro e não vamos nos preocupar tanto assim com o sono de Polanski na cadeia.
[1] Em 25 de novembro, a justiça suíça concedeu liberdade condicional a Roman Polanski. Mediante uma caução de 3 milhões de euros, cerca de 7,8 milhões de reais – que o cineasta obteve hipotecando o seu apartamento em Paris -, ele poderá morar no seu chalé, em Gstaad, até que se decida se será extraditado para os Estados Unidos. Ele teve que entregar seus documentos de identidade à justiça e é obrigado a usar um bracelete eletrônico que permite à polícia o monitoramento dos seus passos.