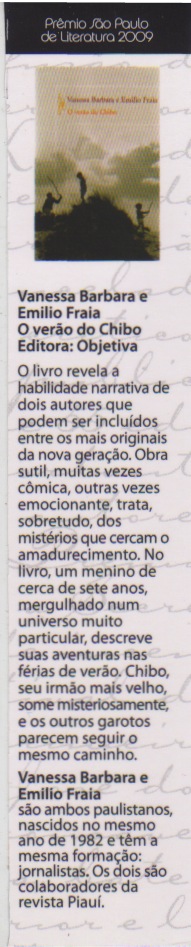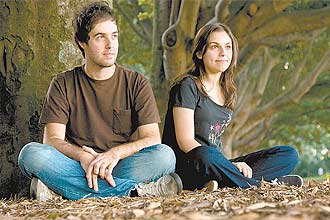Na história recente, não há ninguém que tenha dominado uma grande economia de maneira tão absoluta quanto Carlos Slim no México – uma nação de 110 milhões de habitantes onde a renda per capita é pouco mais de 10 mil dólares. Em agosto de 2007, Eduar-do Porter, membro do conselho editorial do New York Times, escreveu na página de opinião do jornal: “Tendo crescido na Cidade do México, sempre considerei meu país injusto – um lugar onde pequenos grupos de privilegiados concentram todo o poder e a riqueza, enquanto metade da população vive na pobreza. Mas nunca me ocorreu que o México pudesse ter bilionários.” Porter se referia a uma lista da revista Forbes que considerava, entre os 946 bilionários do mundo, dez mexicanos, incluindo Slim, e a uma reportagem na Fortune que o qualificava como o homem mais rico do mundo, com 59 bilhões de dólares – equivalentes a 5% da produção anual total de bens e serviços no México.
Comparando Slim aos barões da Era de Ouro americana, Porter observou: “Seria necessário juntar nove capitães da indústria e das finanças do século xix e começo do século xx” – ele cita John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt, John J. Astor, Andrew Carnegie, Alexander Stewart, Frederick Weyerhaeuser, Jay Gould e Marshall Field – “para reproduzir as pegadas deixadas pelo sr. Slim no México.”
Slim e seus herdeiros controlam mais de 200 empresas; as de capital aberto representam 40% do total do índice da Bolsa de Valores do país. Todos os dias, cada cidadão mexicano contribui com algum valor para os cofres de Slim. Ele é também um dos maiores empregadores do México. É dono da Sanborns, simultaneamente a maior loja de departamentos e a maior rede de restaurantes do país. Em sua carteira de ações, há nomes como o Inbursa, um dos bancos mais importantes do México; a Volaris, uma companhia aérea; uma mineradora; o braço mexicano da Sears; construtoras e companhias de seguro; um grupo financeiro; cinco hotéis; uma empresa engarrafadora; uma indústria de cigarros; e bens imobiliários muito valiosos.
Qualquer uma dessas empresas teria tornado Carlos Slim um homem rico, mas a base de seu império é a companhia de telecomunicações Telmex, que ele comprou em 1990, quando o México começou a privatizar suas estatais. Dez anos depois, Slim a desmembrou, criando um negócio voltado para a telefonia celular, a América Móvil, que é hoje a terceira maior empresa da América Latina.
“Quando Carlos Slim começou a subir na lista da Forbes, fiz minhas próprias contas”, contou-me Eduardo García, um publisher da Cidade do México. Em 2005, quando a Forbes qualificou Slim como o quarto homem mais rico do mundo, García – que mantém uma coluna chamada “Observatório do Slim” na Sentido Común, revista on-line que ele edita – conseguiu contabilizar 10 bilhões de dólares em bens para além do que a Forbes registrou. Em março de 2007, García declarou que Slim havia alcançado a primeira posição, à frente de Bill Gates, em 1 bilhão de dólares. A Reuters publicou a notícia de que Slim seria o homem mais rico do mundo, e o Wall Street Journal confirmou a história. (De acordo com a Forbes, Slim está hoje em terceiro lugar, atrás de Gates e Warren Buffett, já que o patrimônio dos três diminuiu. A Forbes calcula que Slim possui 35 bilhões de dólares, cinco a menos do que Gates.)
Para muitos mexicanos, a riqueza de Slim é motivo de orgulho. Numa pesquisa recente, ele foi apontado como “o grande líder de que o México precisa”, derrotando com folga o mais popular candidato à Presidência, Enrique Peña Nieto, governador do estado do México. Para outros compatriotas, Slim representa o que há de errado com o sistema do país.
Recentemente, encontrei Slim em seu escritório na Cidade do México. Ao ser apresentado às críticas de seus detratores, ele mal ergueu os olhos da pilha de balanços que examinava detidamente. Seu cabelo tem cor de fio de telefone. Durante a conversa, seu olhar era apertado e desconfiado, refletindo um cuidado antigo nas conversas com a imprensa – ou talvez fosse apenas reflexo da tensão de ter que ler tantas colunas de números. Estava ficando tarde, estávamos sentados ali há horas, e seu rosto pingava de suor. “Se a sociedade me pedisse para abandonar os negócios, eu o faria, mas, por favor, pergunte a meus detratores o que eles fizeram pelo país”, disse Slim. “Quantos empregos eles criaram?”, acrescentou. “Ah, como eles me odeiam!”
Embora às vezes seja descrito como um predador impiedoso, o empresário jamais foi pego em nenhum dos escândalos que costumam povoar os jornais mexicanos. E, mesmo possuindo tamanha riqueza, não é um gastador descontrolado. “Ele é o único entre os 200 mexicanos mais ricos que não tem uma casa nos Estados Unidos”, garantiu um ex-funcio-nário do governo local. Pelos últimos 37 anos, Slim viveu em uma residência despretensiosa no bairro Lomas de Chapultepec. (Ele é viúvo; sua esposa, Soumaya, morreu em 1999. Tiveram seis filhos, que hoje trabalham para o pai.) Ele me mostrou seu escritório domiciliar – uma sala pequena com uma mesa, uma cadeira Aeron e estantes repletas de livros de história e biografias – e seu quarto, que tinha o tamanho de um quarto de hotel em Manhattan. A única extravagância na casa eram as obras de arte: a Imaculada Conceição de Murillo na sala de estar, um El Greco na sala de jantar.
***
Politicamente, Slim é difícil de classificar. Nos anos 90, sua reputação foi manchada por uma associação com Carlos Salinas de Gortari, o ex-presidente que caiu em desgraça. Salinas convidara Slim e duas dúzias de outros ricos empresários do México para jantar, e pedira 25 milhões de dólares a cada um deles. Slim me contou que as doações ajudariam Salinas a formar um fundo para financiar eleições. Naquela época, afirmou Slim, “eu não tinha negócios com nenhum político”.
Slim é um homem de poucas distrações além do beisebol, que o atrai devido a sua paixão por estatísticas. Seu time preferido é o New York Yankees. Ele se lembra de estatísticas obscuras, como o número mínimo de strike outs por rodada de Sandy Koufax ou a média de rebatidas das estrelas da Liga Negra. Ocasionalmente, ele publica entusiasmados artigos sobre o esporte. “Os números são como campos infinitos de beisebol: falam da memória, da imaginação e da criação de lendas”, escreveu ele em 1999. “O amor do jogo ganha um novo começo; a mente está mais uma vez em jogo.”
O nacionalismo, a humildade e a relativa modéstia dos hábitos pessoais de Slim funcionam como uma espécie de contraponto à imagem que os mexicanos costumam ter de seus oligarcas. Um de seus conhecidos recorda que, em palestras de economia ou em recepções de alguma figura política estrangeira, ele costumava sacar um caderno preto e tomar notas, numa caligrafia minúscula. “Ninguém mais fazia isso”, o homem garantiu. Em parceria com a Microsoft, a Telmex é dona do Prodigy msn, um provedor de internet, ainda que Slim não tenha computador e garanta que não sabe utilizar um. (Ele carrega, sim, um BlackBerry, que adora e chama de “meu bb”.)
A despeito de sua extensa coleção de arte – em 1994, ele fundou o Museu Soumaya, batizado em homenagem à esposa -, Slim é visto como um novo-rico. Um repórter se lembra de tê-lo entrevistado no escritório, onde havia inúmeros quadros impressionistas com os números de lote da Sotheby’s ainda colados nas molduras. Sergio Sarmiento, apresentador de um programa de televisão e colunista de jornal, disse que Slim “é um solitário que não tem vida social. Quando fomos almoçar juntos, ele usava um terno da Sears – da qual ele é dono. A comida vinha da Sanborns – da qual ele é dono. Slim não frequenta eventos de moda. É um péssimo orador, é tímido e não tem senso de humor. Ele gosta de esportes.”
O pai de Slim, cujo nome de batismo era Khalil Slim, desembarcou no porto de Veracruz, em 1902, aos 14 anos de idade. Tinha vindo sozinho da vila libanesa de Jezzine. Hoje vivem, no México, centenas de milhares de descendentes de imigrantes árabes, sobretudo libaneses. Buscavam a liberdade religiosa – os Slim eram cristãos maronitas – ou fugiam do alistamento do Império Otomano. Khalil, que mudou o nome para Julián, juntou-se aos dois irmãos que haviam fundado uma loja de vendas a varejo.
No que hoje é reconhecida como uma manobra típica dos Slim, Julián e o irmão José abriram um armazém geral na Cidade do México em 1911 – com a Revolução Mexicana em pleno curso. Três anos depois, Julián, aos 26 anos de idade, comprou a parte de seu irmão na loja.
A certa altura, quando eu estava no escritório de Slim, ele discou um número no viva-voz da mesa de jantar que lhe fazia as vezes de escrivaninha.
“Sí, Ingeniero?“, respondeu uma voz.
Slim pediu os livros-caixa da loja do pai. “Ele decidiu que ficaria no México para sempre”, explicou o empresário. “E investiu durante a Revolução.” Alguns instantes depois, um de seus sobrinhos apareceu com os livros, e ele me mostrou uma página, escrita com a caligrafia elegante de Julián, datada de 3 de novembro de 1919. Até aquele momento, quase 2 milhões de pessoas haviam morrido ou fugido do país, mas Julián havia acumulado mais de meio milhão de pesos em mercadorias, ações e propriedades. Julián vendeu a loja em agosto de 1929, dois meses antes da quebra da Bolsa de Wall Street que arrastou o mundo para a Grande Depressão.
***
Carlos Slim nasceu em 28 de janeiro de 1940, o quinto dos seis filhos de Julián com a esposa, Linda Helú. Carlos abriu uma conta-corrente aos 10 anos de idade e logo percebeu que não estava tendo um bom retorno pelo depósito. Sacou o dinheiro e comprou títulos de poupança por 10 pesos cada. Os títulos deveriam dobrar de valor em dez anos. “Pensei que os juros seriam de 10%, mas descobri que eram de 7,17%”, ele lembra. “Foi quando entendi o que eram juros compostos.”
Quando Carlos tinha 12 anos, Julián deu de presente a cada um dos filhos um caderno de registro de despesas, e passou a revisar semanalmente a renda pessoal e os gastos de cada um. Ele enfatizava a importância da força familiar. Usava palitos para demonstrar que “é possível quebrar um, mas não dá pra quebrar todos juntos”, lembra Slim. Uma máxima que Julián gostava de repetir era: “Dinheiro que não vai para os negócios evapora.” No futuro império de Slim, isso virou um verdadeiro credo. Outra era: “Todas as épocas são boas quando você trabalha do jeito certo.” Slim disse que aprendeu com o pai que “somos apenas administradores temporários de riqueza. No fim das contas, você termina sem nada”.
Julián Slim deve ter sentido uma particular urgência em transmitir esses ensinamentos aos filhos. Era diabético e já tinha sobrevivido a um ataque cardíaco. Em 1953, aos 65 anos, sofreu um segundo ataque e morreu. O jovem Carlos ficou arrasado. “Fiquei dois anos trancado em casa”, relembra. Parou de ir ao cinema e a festas.
Só começou a sair da depressão ao ingressar no ensino médio, em 1955. Era bom aluno – chegou a me mostrar o diploma da escola católica que frequentou, com a observação de ter sido o melhor da classe – e continuou fazendo investimentos. Em janeiro de 1955, seu balanço revelou um patrimônio líquido de 5,5 mil pesos; em agosto de 1957, crescera para quase 32 mil. Antes de completar os vinte anos de idade, compareceu à primeira reunião de diretoria de sua vida – na sede de uma companhia de mineração pela qual se interessava.
“Há pessoas que são boas em letras, outras são boas em números”, comentou. Decidido a se tornar engenheiro, entrou para a Universidade Nacional Autônoma do México e foi tão bem nos estudos que o convidaram a ensinar programação linear aos colegas, matéria usada no cálculo da máxima alocação de recursos – uma especialidade de Slim até hoje. Embora ainda seja conhecido entre os funcionários e amigos como El Ingeniero, logo percebeu que suas ambições estavam em outro lugar e abandonou a profissão. Antes de se dedicar ao próximo capítulo, resolveu tirar um ano de folga. Era 1964 e ele foi para Nova York.
***
A maioria dos jornais dos Estados Unidos, à maneira das companhias telefônicas mexicanas, opera num regime de semimonopólio, ou o que Warren Buffett chamou de “franquia econômica” – oferecendo produtos ou serviços essenciais que não estão sujeitos a regulamentação de preços e são considerados insubstituíveis por seus clientes. Até os anos 70, quase todas as grandes cidades possuíam jornais competitivos, mas o processo de fusão – causado, em parte, pela popularidade dos telejornais – fez sobrar apenas uma publicação por mercado. A maioria dos sobreviventes foi deixada numa situação invejável. No que pode vir a se provar uma anomalia histórica, o jornalismo diário subitamente se tornou uma empreitada lucrativa. Os jornais começaram a comprar terrenos centrais de primeira e a construir sedes envidraçadas. Repórteres passaram a receber bons salários.Mas, antes mesmo da atual recessão, o modelo básico de vendas para a mídia impressa começou a ruir: a Craigslist [o maior site de anúncios gratuitos do mundo] destruiu a base de classificados e de anúncios publicitários, as lojas de departamento se consolidaram e passaram a anunciar menos. E a internet popularizou a livre distribuição de notícias.
***
Em outubro de 2008, Chris Wood, representante do Sun Trust, banco de Atlanta que havia emprestado cerca de 80 milhões ao New York Times, entrou em contato com o Inbursa, banco da Cidade do México que pertence a Carlos Slim. No mês anterior, Slim comprara uma parte substancial da empresa. Wood perguntou a Slim se ele emprestaria 200 mi-lhões de dólares à Times Company. As negociações se estenderam até o fim de novembro, quando se firmou um acordo informal. Os termos eram pesados: o empréstimo teria um prazo de pagamento de seis anos, a uma taxa de juros de 14% – a taxa usual para títulos de alto risco – e limitava a contração de novas dívidas. Mas as negociações não se fundamentavam na taxa de juros; em vez disso, centravam-se na exigência de Slim em receber uma opção para compra de ações no valor de alguns milhões de dólares, que aumentariam drasticamente sua participação na empresa. O grupo concordou em ceder garantias que poderiam ser convertidas em 15,9 milhões de ações ordinárias, caso ele aumentasse o empréstimo para 250 milhões. O acordo foi assinado em janeiro e Slim virou o maior credor da empresa. Estava pronto para se tornar um de seus maiores acionistas – logo abaixo dos membros do clã Ochs-Sulzberger, que controla o New York Times desde 1896.
Quando Slim se pôs a investir no Times, muita gente esperta teve dúvidas. “Nós pensamos: ‘Esse cara é maluco'”, contou-me um conselheiro da diretoria da empresa. Em seguida, as ações caíram de 15 para 6 dólares, e Slim perdeu milhões. Os títulos que recebeu com o empréstimo, no entanto, o colocaram numa posição vantajosa. Ele podia se tornar um dos acionistas majoritários e, ao mesmo tempo, ser o seu principal credor. Seria difícil alguém assumir o controle do jornal sem o seu aval e, se o Times decretasse falência, ele provavelmente teria direito a uma porção significativa de seus ativos.
Não ficou claro se Slim está interessado em assumir o controle do Times e, em caso positivo, por quê. “Por que alguém iria querê-lo?”, comenta um redator do jornal que há anos convive com o atual publisher, Arthur Sulzberger, Jr. “Talvez para mudá-lo ideologicamente, ou para poder sentir o mesmo orgulho dos Sulzberger em ser o dono do New York Times. Trata-se de um valor que transcende o valor econômico. Se fosse Rupert Murdoch, Michael Eisner ou David Geffen, você diria: ‘Ah, entendo por quê.’ Mas é Carlos, e ele só se interessa por economia.” O redator admitiu estar estarrecido com a motivação de Slim. “É o grande mistério disso tudo”, disse.
Para proteger o controle dos Ochs-Sulzberger, as ações do grupo Times estão divididas em duas categorias: as de classe A, que podem ser compradas livremente no mercado; e as de classe B, mantidas predominantemente pelo clã. Os donos das ações de classe B podem eleger 70% da diretoria, determinando com isso a orientação política do jornal. Perguntei a um redator se a família, que detém 89% das ações de classe B, ficaria tentada a vendê-la, como fez a família Bancroft quando Murdoch se interessou pelo Dow Jones e Wall Street Journal.
“Muita gente procurou possíveis desavenças entre os membros do clã, e ninguém nunca encontrou”, respondeu-me ele. “Mas agora as ações estão caindo e a empresa suspendeu a distribuição de dividendos. Os dividendos são a maneira pela qual os Sulzberger que não trabalham botam dinheiro no bolso.”
Mesmo se na família houvesse dissidentes com planos de vender o jornal, eles se deparariam com um enorme desafio. O patrimônio da família é administrado por oito membros, e é preciso obter o consentimento de seis deles para aprovar mudanças estruturais na empresa, incluindo a sua venda. Em 2007, Hassan Elmasry, diretor da filial londrina do banco de investimentos Morgan Stanley, que controlava 10 milhões de ações de classe A da Times Company, pressionou a gerência a eliminar o sistema de dupla categoria, sem sucesso.
A oferta mais séria feita ao jornal – que podia então ter resolvido seus problemas financeiros – veio de David Geffen, magnata do entretenimento. Em setembro, enquanto Slim fazia seu primeiro investimento na empresa, Geffen chamou Steven Rattner, amigo íntimo de Arthur Sulzberger Jr. e ex-repórter do jornal. Sabendo que os Sulzberger resistiriam à proposta, Geffen sugeriu deixar a parte editorial com a família, enquanto ele cuidaria da administração da empresa, transferindo aos poucos a gerência do jornal para uma fundação sem fins lucrativos. Rattner apresentou a idéia a Sulzberger, que a rejeitou. Ao saber do empréstimo iminente de Carlos Slim, Geffen chamou tanto Rattner quanto Sulzberger e lhes propôs o mesmo acordo. Sulzberger recusou, dizendo que preferia Slim, pois este já possuía ações do jornal. Ao que consta, também estava preocupado com as ambições de Geffen em assumir o controle da companhia.
Até recentemente, o New York Times havia resistido aos cortes que dizimaram as redações americanas. Mas, em abril, os funcionários do jornal foram informados de uma redução de 5% nos salários. Logo em seguida, uma centena foi demitida do setor comercial. “Há uma crescente sensação de que a empresa chegou ao fim do túnel e a gerência não sabe o que fazer”, disse-me o redator. “Pela primeira vez, as pessoas estão achando que o jornal pode ir à falência.”
***
Carlos Slim tinha 24 anos quando desembarcou em Nova York, no verão de 1964. Visitou a Exposição Mundial, onde se interessou sobretudo pela Progressland (Terra do Progresso) da General Electric, que contava com um auditório giratório. Na Futurama, exposição da mesma ge, cadeiras móveis levavam o visitante ao ano 2024, quando a Lua viraria destino turístico. Durante sua viagem de um mês, Slim também visitou a Biblioteca Pública da cidade e a Estátua da Liberdade, e foi inúmeras vezes à Bolsa de Valores de Nova York, enterrando-se em sua biblioteca. “Queria ver como a Bolsa funcionava”, contou.Slim voltou ao México em agosto, e lá conheceu a filha de 16 anos de uma amiga de sua mãe. A garota, Soumaya Domit Gemayel, provinha de duas proeminentes famílias de imigrantes libaneses. Era culta, esbelta e elegante. “Fiquei muito impressionado”, relembra. Então partiu novamente. Visitou Jezzine, a vila libanesa onde o pai nasceu, famosa por suas belas cachoeiras. Passeou pelas ruínas de Baalbek e Biblos, e gostou de conhecer os cassinos. Mas já planejava sua próxima investida – uma espécie de ataque-surpresa a setores-chave da economia mexicana.
Em 1965, Slim declarou: “Deixei de ser um investidor para me tornar principalmente um operador.” Ele havia lido alguns livros populares de administração, como How to Be Rich (Como Enriquecer), uma coletânea de artigos de aconselhamento que J. Paul Getty, na época o homem mais rico dos Estados Unidos, havia escrito para a Playboy. Getty encorajava os leitores a cultivar uma “mentalidade milionária”, que ele descrevia como “ser econômico e estar sempre – e acima de tudo – voltado ao lucro”. Getty fez sua fortuna como explorador de petróleo, ganhando o primeiro milhão aos 24 anos de idade. Slim era um ano mais velho, mas no final de 1965 já havia fundado uma casa de corretagem, comprado uma empresa engarrafadora e incorporado uma corretora de imóveis, a Imobiliária Carso. A palavra “Carso” é uma junção dos prenomes de Carlos Slim e Soumaya, com quem se casou em abril de 1966.
A mãe do noivo quis lhe comprar uma casa – um velho costume da família, mas o filho disse que preferia sua parte em dinheiro. Com ele, construiu um condomínio de doze andares na capital. Carlos e Soumaya ocupavam o 9º andar e alugavam os demais apartamentos.
Slim continuou a adquirir empresas – entre elas, uma mineradora de cobre e uma gráfica -, mas sua aquisição mais importante foi a fábrica de cigarros Cigatam, que detinha a licença do Marlboro. A Cigatam trouxe a Slim um ingrediente essencial na acumulação de fortunas: um sólido fluxo de caixa.
Em 1981, Slim começou a vislumbrar indícios de uma catástrofe econômica. Antes de uma crise, observou, há “um excesso de excessos”. O México, grande produtor de petróleo, estava afundado em dívidas, mas nadava em petrodólares. A inflação se descontrolara no mundo todo. Em fevereiro de 1982, a moeda mexicana foi desvalorizada, fazendo com que despencasse em mais de 70%. Em agosto, o secretário de Finanças e Crédito Público anunciou que o país não pagaria a dívida externa. Foi a bancarrota. Os investidores não queriam fazer negócios com o México. Slim foi às compras.
Adquiriu ações da Reynolds Aluminum e da General Tire, além da rede varejista Sanborns, outrora a maior concorrente de seu pai, que tinha 125 lojas pelo país. Uma Sanborns típica é consideravelmente menor do que uma loja da Wal-Mart, mas ainda assim vende roupas, jóias, eletrônicos, canetas, cartões, cosméticos, livros, revistas, dvds e brinquedos, e também abriga um restaurante, um bar, uma padaria e uma farmácia. A marca possui também uma cadeia de cafeterias.
“O ano de 1983 foi uma loucura”, relembra Slim. “As pessoas não queriam vender apenas seus investimentos, mas também suas empresas.” Os empreendedores americanos resolveram abandonar o México e se desfazer de suas subsidiárias. Slim afirma que começou investindo na Anderson Clayton, que vendia descaroçadores de algodão e cujas ações valiam 58 pesos. Poucos meses depois, os dividendos eram de 65 pesos. Outras empresas eram vendidas por 1% ou 2% de seu valor de mercado. “Compramos uma companhia de papel por 1,5 milhão de dólares.” Ele lembra ter adquirido 43% de uma subsidiária da Firestone por 140 mil dólares. “Foi a melhor de todas as épocas”, disse. “Ninguém queria comprar nada, todos queriam vender.”
Foi em agosto de 1984, em meio à crise mexicana da dívida externa, que Carlos Slim fez uma aquisição de peso. Um dos principais bancos do país, o Bancomer, havia sido nacionalizado e forçado a se desfazer de alguns de seus bens. Slim afirma ter pago 55 milhões de dólares por um pacote de ações que incluía a companhia Seguros de México. De acordo com o empresário, só essa empresa vale hoje 11 bilhões de dólares. Assim surgia um estilo. A atitude corajosa diante de uma crise não só adicionava à fortuna de Slim, multiplicava-a.
***
“Ao longo da minha vida, ouvi as pessoas dizerem em diversas ocasiões: ‘Coitado do New York Times‘”, contou-me recentemente Bill Keller, editor-executivo do jornal. Estávamos numa cafeteria na nova sede do Times, um arranha-céu de 600 milhões de dólares que seu arquiteto, Renzo Piano, descreveu como ” uma narrativa de transparência e leveza”, em extremo contraste com a suja ex-sede do jornal. O Times vendera o edifício, em 2004, por 175 milhões de dólares; três anos mais tarde, seus novos donos o revenderam com um lucro de 350 milhões.
“O antigo edifício era apertado e não se adaptava à reinvenção que começava a acontecer”, disse Keller. Na época em que conversamos, o Times estava negociando vender uma parte da nova sede por 225 milhões de dólares e arrendar de volta os 21 andares ocupados pelos seus escritórios, com a opção de re-comprar o espaço em dez anos. Ao contrário de muitos jornais americanos em dificuldades, o Times se concentrou em proteger sua redação – “os repórteres, editores, fotógrafos, artistas gráficos e web designers. As pessoas que você precisa que sejam o New York Times“.
Como Carlos Slim, o Times se aproveitou de períodos de turbulência econômica para remodelar a empresa. Keller observou que, durante a recessão dos anos 70, o jornal passou a ser dividido em quatro cadernos, o que aumentava as oportunidades de anúncios publicitários. Em 1980, quando a crise de energia causou novo declínio econômico, o Times tomou a ambiciosa decisão de publicar uma edição nacional. “Quando comecei como editor, me explicaram a estratégia de -marketing da casa”, ele lembra. “O que a maioria dos jornais faz para crescer é encomendar uma pesquisa com pessoas que não lêem a publicação e perguntar: ‘O que faria você gostar mais de nosso jornal? Em que podemos mudar para atraí-lo?’, então eles vão e lançam uma coluna de aconselhamento sentimental ou uma tira de quadrinhos – o que quer que o não-leitor tenha sugerido. Já a estratégia do Times consistia em buscar os nossos leitores mais fiéis – aqueles que não conseguem viver sem o jornal, que o lêem diariamente – e traçar o perfil dessas pessoas. Em seguida, encontrar mais gente com esse perfil e definir o jornal demograficamente, e não geograficamente.
Muitos funcionários do Times começaram a especular por quanto tempo a família Ochs-Sulzberger irá aguentar. Embora o jornal tenha ganho cinco prêmios Pulitzer recentemente, ele perdeu 74,5 milhões de dólares no primeiro trimestre. “Qualquer mudança no controle da empresa pode ser altamente traumática”, afirmou Frank Rich, colunista do Times. “Em geral, as instituições jornalísticas que permanecem verdadeiramente independentes são aquelas dirigidas pelas famílias fundadoras.” Thomas Friedman, o renomado colunista de relações internacionais do jornal, elogiou os esforços de Arthur Sulzberger Jr. em manter a redação intacta, mas acredita que o rearranjo das organizações jornalísticas será extremo: “Seremos nós, a bbc, o Wall Street Journal e não muito mais do que isso.” Friedman afirmou também que o Times “irá provavelmente precisar de um sócio” e sugeriu um candidato: “Uma pessoa com a ética e a integridade jornalística de Michael Bloomberg”, o prefeito de Nova York, que possui seu próprio império de comunicações.
***
Em 1990, o governo mexicano começou a privatizar as estatais, incluindo a arcaica companhia telefônica Telmex. Até então, era preciso esperar anos para adquirir uma linha telefônica; os poucos orelhões raramente funcionavam; e enormes porções do país continuavam isoladas. O presidente, Carlos Salinas de Gortari, via a privatização como uma oportunidade para criar fortes empreendimentos mexicanos que pudessem competir num mercado global. À primeira vista, a Telmex não parecia um investimento vantajoso, mas o governo ofereceu aos futuros proprietários da empresa um monopólio de seis anos nas ligações de longa distância. Os celulares ainda eram novidade no México e as poucas prestadoras existentes possuíam licenças só para certas regiões. O governo incluiu no acordo uma licença de telefonia celular que cobria o país inteiro – o que resultou em uma das mais preciosas concessões já anunciadas.
Em setembro de 1989, quando o governo divulgou sua intenção de vender a Telmex, a companhia havia sido avaliada em pouco mais de 3 bilhões de dólares. Três anos depois, quando a venda foi finalmente concretizada, o valor de mercado da empresa pulou para mais de 8 bilhões, atraindo a atenção de investidores internacionais. “A privatização da Telmex ajudou a criar a categoria de mercado emergente”, disse-me um ex-secretário mexicano de Finanças.
Havia dois principais concorrentes brigando pela Telmex. Slim reuniu uma equipe que incluía a Southwestern Bell e a France Telecom. Ele me contou a história enquanto andávamos pela cidade em seu utilitário, um Ford preto: “O governo estava vendendo 20,4% das ações com direito a voto da Telmex, com opção de comprar 5% em ações sem direito a voto”, disse. A equipe de Slim apresentou o maior lance, de 1,76 bilhão de dólares, mas o empresário foi atormentado durante anos com o boato de que havia vencido por conta de seus laços com Salinas. Ambos refutaram enfaticamente a acusação.
Passávamos por ruas residenciais íngremes. As casas se escondiam atrás de muros altos, em geral coroados por arame farpado ou cercas elétricas. O cd player tocava uma versão orquestral de Unchained Melody. Slim é visto como excêntrico, e até mesmo incauto, por dirigir o próprio carro, dado o número de sequestros no México. (Em 1994, sequestraram um primo de Slim, Alfredo Harp Holú; ele foi libertado depois que a família pagou um resgate de 30 milhões de dólares.) Perguntei se ele se sentia seguro ao volante. “Sim, mas eles vêm junto”, respondeu, apontando para o carro atrás de nós que transportava seguranças armados. Mas não era exatamente um exército, observei. Slim deu de ombros: “Há alguns anos não precisávamos de ninguém.”
A Telmex chegou às mãos de Slim com um poderoso sindicato, linhas obsoletas de cobre e 7 mil telefonistas, cujo trabalho havia se tornado supérfluo com o advento das ligações diretas. “Metade das pessoas ali eram desnecessárias”, disse Slim. Por contrato, porém, ele não podia demitir ninguém. Então apaziguou o sindicato ao recompensar os trabalhadores com ações. Criou o Instituto de Tecnologia da Telmex para reciclar os funcionários. Investiu 30 bilhões de dólares em infraestrutura e estendeu milhares de quilômetros de cabos de fibra óptica. Segundo ele, em 1993 não havia mais lista de espera para obter linhas telefônicas.
A Southwestern Bell, uma das sócias da Telmex, mandou um jovem executivo de Oklahoma chamado Randall Stephenson para trabalhar com Slim. “Foi muito estimulante”, lembra Stephenson, que hoje dirige a at&t. “Há poucas oportunidades na vida nas quais você só cresce, cresce, cresce.” Ele diz que Slim é “provavelmente o empresário mais inteligente que já conheci”.
Quando Stephenson chegou ao México, havia apenas 20 mil assinantes de telefonia celular. Esperava adotar o modelo americano: “Nos Estados Unidos, ganhávamos 70 dólares mensais por assinante.” Slim disse que o plano não funcionaria na América Latina; 20 dólares era mais realista. “Ele era intransigente com isso”, conta Stephenson. “Ao redor do mundo, as telecomunicações se desenvolveram no modelo de monopólio, no qual é preciso levar os custos em conta para só depois se estabelecer o preço. Então Carlos entra nas telecomunicações com uma mentalidade hipercompetitiva e capitalista, e diz que é preciso determinar o preço desses serviços para conseguir uma posição de peso no mercado. Ele foi o primeiro a confrontar nossas idéias.”
Slim, que havia aprendido algumas lições de marketing com seu negócio de cigarros, decidiu vender telefones de baixo custo em lojas de descontos e de conveniência. “A idéia era ir até o cliente, não esperar que ele viesse até você”, explicou. Também surgiu com o que chamava de plano Gillette, em que subsidiava o custo dos aparelhos de telefone – proibitivos para muitos mexicanos – e lucrava com os cartões telefônicos pré-pagos, assim como a Gillette tem lucro com as lâminas, e não com os aparelhos. Slim acredita que a Telmex foi a primeira companhia a juntar celulares e cartões telefônicos. “No ramo da telefonia, volume é mais importante do que preço”, explicou. A companhia de celulares que viria a derivar da Telmex, a América Móvil, hoje conta com quase 200 milhões de usuários na América Latina e uma receita média mensal de 10 dólares por assinante. É uma das empresas de telecomunicações mais lucrativas do mundo.
***
A sucursal do Times na Cidade do México era vizinha ao escritório de Slim, em Paseo de Las Palmas, e muitos dos correspondentes o conheciam. Anthony DePalma, que na época trabalhava na sucursal, acompanhou Thomas Friedman em uma entrevista com Slim. “Slim nos convidou para ir à casa de sua mãe, em Polanco, onde mantém uma espécie de museu”, lembra DePalma. “Ainda não era o homem mais rico do mundo, mas era com certeza o mais rico do México, e ainda assim estava impressionado de encontrar Tom, mais do que qualquer pessoa que já vi.” Slim insistiu em mostrar aos convidados uma cadeira que quebrou quando criança. Eles se sentaram para almoçar – pollo en mole, fornecido pela Sanborns – e Slim mostrou aos repórteres as fotos de um recente passeio de canoagem que fizera com os filhos; contou que se machucara na ocasião e levantou a calça para exibir as feridas na perna.
Slim fez o carro entrar na rua Monte Líbano, batizada em homenagem à cadeia de montanhas próxima à vila natal do pai, no Líbano. Passamos a falar sobre a comunidade libanesa no México, que inclui, entre outros, a atriz Salma Hayek – “uma das mulheres mais bonitas do mundo”, eu observei, sem demora. Slim sorriu. “Ela é sexy, ela é sensual, e muito baixinha”, admitiu.
O historiador Enrique Krauze me contou que Slim é “divertido” quando o assunto são mulheres. “Ele se exibe um pouco.” Desde que a esposa morreu, Slim foi associado a inúmeras companhias femininas, incluindo a rainha Noor, da Jordânia. “Somos bons amigos”, ele garante. É improvável que se case novamente. Falar sobre a perda da esposa ainda é doloroso para ele. Krauze afirmou: “Soumy era como uma princesa árabe – uma mulher de voz angelical, delicada e com um sorriso inesquecível.” Continuou: “Encontrei Carlos uns dias depois da morte dela. Ele me disse: ‘Preciso ser racional, ou vou enlouquecer.'”
Slim entrou na garagem da casa que usa como escritório. Dentro, havia um Cadillac 1941 coberto por plástico. “Meus filhos me deram de presente”, ele explicou. “É igual ao carro que tive quando aprendi a dirigir.” Nós fomos para a sala de jantar, onde às vezes ele organiza reuniões. Na mesa havia um buquê murcho de flores do jardim, um limão mofado, um livro sobre análise grafológica e uma réplica de plástico do Ford Crown Victoria, outro automóvel que Slim costumava dirigir. Ele ligou um iPod conectado a um pequeno alto-falante. Suas preferências musicais tendem a melodias easy listening, mas também registrei a presença de um cd de coletânea de Elvis. No topo de um armário bagunçado, havia uma miniatura em bronze de O Beijo, de Rodin. O Museu Soumaya, de Slim, tem 300 esculturas de Rodin – a maior coleção fora da França.
Slim perdeu-se imediatamente num relatório da Merrill Lynch. Tinha nas mãos uma esferográfica vermelha e, enquanto conversávamos, fazia minúsculas anotações.
“O que você vê quando recebe um relatório desses?”, perguntei.
“Os números, eles falam comigo”, disse.
Slim explicou que o relatório mostrava a penetração no mercado dos serviços de telefonia celular pelo mundo, ao longo do tempo. “Hoje, quase 80% da população da América Latina têm um celular”, ele disse – um número bem acima dos 65% do Canadá, que, percebi, possuía um círculo vermelho ao redor. Ele sublinhara o México. “Em 2004, tínhamos apenas 26,4% de penetração no mercado, e agora temos 80,5%. Um crescimento de 300%! Você acha que isso é ruim para o país?” Ele arregaçou as mangas da camisa azul-clara bordada com um discreto monograma. “Peru”, ele disse, sublinhando mais uma vez; lá, sua penetração no mercado cresceu de 8,6% em 2002 para 61,6% no ano passado. Na Argentina e no Brasil, os números contam uma história parecida. “Fomos nós que melhor entendemos o conceito de pré-pago”, disse Slim.
O monopólio de Slim nas ligações de longa distância terminou em janeiro de 1997, mas suas companhias continuaram detendo uma esmagadora liderança. “O senso comum é que a privatização criou monopólios”, disse-me o ex-presidente Salinas, que deixou o cargo em 1994. “Mas ninguém vê o que aconteceu depois do fim da minha administração.” A Telmex ainda detém 90% das linhas telefônicas do México e, segundo o governo, tem se recusado a dividir a rede com os concorrentes, mesmo que seja obrigada a fazê-lo. A derivada da Telmex, América Móvil, controla 72% do mercado mexicano de telefonia celular. Estritamente falando, nenhum desses empreendimentos é um monopólio, mas ambos operam no que Salinas chama de “ilhas de privilégios”- com vantagens competitivas que tornam quase impossível para as demais companhias ganhar presença no mercado. Isso é verdadeiro para quase todas as principais indústrias do México. Em 2007, o Banco Mundial publicou um estudo sobre a lentidão de crescimento da economia mexicana, e concluiu que o monopólio, tanto público quanto privado, era o principal obstáculo ao crescimento econômico e o desenvolvimento comercial do país. O México é uma das piores nações do mundo em termos de competitividade, e os preços do gás natural e do querosene estão entre os mais altos do planeta. A eletricidade custa até 60% mais do que nos Estados Unidos.
Por mais de uma década, os órgãos reguladores estatais e os advogados da Telmex travam uma batalha que se assemelha à luta livre mexicana: há muitos lances emocionantes, mas nada de mais chega a acontecer. Em 2006, contudo, a administração do recém-eleito presidente Felipe Calderón tentou forçar uma reforma do setor das telecomunicações. Naquele ano, Rafael del Villar, então subsecretário de Comunicação e Transportes, exigiu que a Telmex reduzisse as taxas de interconexão em telefones fixos e celulares. “A Telmex lutou fortemente contra essa resolução”, disse-me Villar. “Inclusive entrou com processos na Justiça para colocar o ministro e a mim na cadeia.” Um ex-advogado da Telmex me contou que a estratégia legal da companhia era contestar todas as decisões tomadas pelas agências reguladoras, atrasando com isso o processo de controle. “Conseguimos mais de 200 mandados”, contou o advogado. “Criamos uma incrível bagunça legal e processual.” Os concorrentes da Telmex também foram ameaçados com acusações na Justiça.
Francisco Gil Díaz, hoje presidente da divisão mexicana da Telefónica, a gigante espanhola das telecomunicações, criticou os métodos de Slim numa conferência em Washington, no ano passado. “Temos um Estado dentro do Estado, um poder dentro de si mesmo que pode influenciar e obstruir políticas em seu benefício”, ele afirmou. Quando a Telefónica lançou um serviço nacional de telefonia celular no México, em 2002, tentou atrair novos clientes com a já familiar estratégia de vender aparelhos altamente subsidiados. Mas os aparelhos eram comprados e revendidos, gerando um enorme prejuízo para a Telefónica. Em 2005, a companhia entrou com uma reclamação formal contra a América Móvil, alegando que ela foi responsável pelo esquema de revenda. Slim nega a acusação, mas uma investigação está em curso. O empresário culpa a Telefónica pela ingenuidade. “Quando se vendem aparelhos de telefone por 20 dólares e seu valor real é de 60, haverá muita gente querendo revendê-los”, ele diz.
***
Em 2000, ficou claro que o futuro das telecomunicações estava na banda larga, mas poucos mexicanos tinham computador. Slim passou a vender computadores que podiam ser pagos em prestações na conta mensal de telefone. Pelos seus cálculos, tornou-se o principal fornecedor do produto no México. A despeito de as linhas telefônicas da Telmex serem feitas só para a transmissão de voz, Slim abocanhou o mercado de banda larga de seus concorrentes. “Em 2003, as companhias de cabo tinham 43% do mercado, e nós tínhamos 42%”, ele disse. “Desde então, elas cresceram 50% ao ano, e nós, 90%.” De acordo com a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a banda larga mexicana é uma das mais caras e lentas entre os países-membros.
“Pessoas como Slim não parecem concordar que os monopólios e oligopólios fazem mal ao país”, disse-me Benito Ohara, presidente da mcm, uma provedora de telecomunicações da Cidade do México. “Aqui, temos monopólios nos setores de eletricidade, água, transportes, aço, televisão, rádio, pão e cerveja – e assim as empresas são sobrecarregadas com esses custos exorbitantes. O único item que podemos controlar como pequenos empresários é o salário. É por isso que os trabalhadores daqui recebem tão pouco.” Segundo Ohara, os investimentos são desencorajados porque os monopólios não têm motivo para gastar seu capital, e os investidores em potencial não querem lutar por interesses já estabelecidos. “A última coisa que se quer é investir numa indústria onde Slim está”, acrescentou Ohara. “Todo mundo sabe que levaria uma surra.”
Slim compilou uma lista de dez princípios que formam sua filosofia de negócios. Muitos deles remetem às lições de seu pai. O primeiro é manter a estrutura societária simples. Embora controle centenas de empresas, ele não possui uma sede corporativa; em geral, o principal executivo de cada empresa permanece próximo à equipe de vendas ou aos funcionários. Outra regra se refere a “manter a austeridade nas épocas boas”. A sede da Telmex, por exemplo, está localizada no mesmo prédio de concreto desde que Slim assumiu o controle da empresa, há dezenove anos. Muitas das mesas de fórmica padronizadas herdadas do governo ainda estão em uso.
Mesmo os adversários de Slim admiram sua determinação e a forma com que suas empresas incorporam a personalidade do dono. “Sim, ele é implacável”, disse Roberto Newell. “Completamente amoral, talvez. Não imoral.” Mas ele admite: “Não sei se devo amá-lo ou odiá-lo. Só fico fascinado pela sua competência.”
Almocei com um grupo de empresários mexicanos. Todos haviam feito negócios com Slim ou com suas empresas – o que era quase impossível de evitar – e nenhum deles quis ser citado pelo nome. Um alegou ter sido diretamente ameaçado por funcionários de Slim: “Dois caras vieram até a minha empresa e disseram que, se não derrubássemos nosso link de micro-ondas, a Telmex cortaria todas as nossas telecomunicações.” (Slim não se lembra do incidente, mas diz que poderia ocorrer caso a empresa estivesse utilizando os links de micro-ondas para tráfego não autorizado, “tornando locais as ligações de longa distância”.)
Muitos dos meus companheiros de almoço admiravam os instintos comerciais de Slim. “Ele investiu no Brasil na hora certa”, afirmou um banqueiro de investimentos. “Investiu na Argentina logo depois da crise de 2001, e agora possui 40% do mercado de celulares. A mesma coisa na Colômbia. Brilhante.”
Um ex-funcionário de Slim retrucou: “Ele só aproveitou a boca-livre que ganhou do governo vinte anos atrás. Se você considera isso brilhante, então é.”
“Mas este país está cheio de gente que tem boca-livre e se dá mal”, observou o banqueiro. Muitos concordaram com a cabeça.
O banqueiro então recordou: “Slim estava fazendo compras em Nova York e entrou na [loja de departamentos] Saks.” Os outros homens sorriram, entendendo o que ele queria realmente dizer: Slim saiu para comprar a Saks. “Calculou a área do edifício, então chamou um amigo e perguntou o valor do metro quadrado na Quinta Avenida. Estimou que as ações valiam uma fração do que o edifício em si custava! Então lançou um pedido de compra de ações.” No final de novembro, Slim havia acumulado 25 milhões de ações, somando 17% da empresa. (“Era óbvio que o preço das ações estava mais baixo que o valor do imóvel”, Slim afirma. “Era uma boa empresa, com uma marca excelente.”) Naquele mês, a Saks retomou uma cláusula para prevenir qualquer acionista de adquirir mais de 20% da empresa.
O imbróglio com a Saks não foi a primeira vez que Slim se aventurou nos Estados Unidos em busca de uma grande aquisição. Ele havia sido o principal investidor da Compusa, uma cadeia varejista de produtos de informática que anunciou sua falência em 2007. “Ele se voltava para todos os lados em busca de investimentos”, disse-me um colunista mexicano. “Está ficando sem o que comprar no México.”
***
Em março do ano passado, Luis Téllez, secretário de Comunicações e Transportes, convocou uma reunião secreta entre Slim e o presidente Calderón em Los Pinos, a residência presidencial. Téllez esperava que o governo e Slim pudessem, de forma diplomática, desenvolver um grandioso plano de abertura do setor das comunicações que permitisse a competitividade. Em troca, o governo ofereceria a Slim algo que ele desejava desesperadamente – a televisão.
Nos termos originais da privatização, a Telmex estava proibida de oferecer serviços de televisão. Na época, o governo temia outro gigante predador mexicano, Emilio Azcárraga, que controlava a Televisa, a principal rede de televisão. Em parte, a Telmex fora criada para contrabalançar a Televisa. Ambas as organizações eram consideradas poderosas demais para que se permitisse uma junção. Desde então, porém, a distinção entre telecomunicações e televisão tornou-se confusa. Por todo o mundo, existe uma contenda feroz entre cabo, dsl, satélite e provedores de internet para oferecer pacotes de voz, dados e televisão a seus clientes – o que é conhecido na indústria como triple play (oferta tripla). No México, a Telmex era a única companhia telefônica proibida de entrar na briga.
Mesmo os órgãos reguladores mexicanos reconheciam que a restrição à Telmex era obsoleta e agia contra o ambiente competitivo de mercado que esperavam criar. “A Televisa sentiu-se ameaçada com a entrada de Slim no mercado de televisão, o que estimula a concorrência”, disse-me Villar, hoje membro da Comissão Federal de Telecomunicações. “Fico feliz por esses caras se odiarem.”
A reunião em Los Pinos se deu em torno de uma grande mesa em forma de U. De um lado, Slim e sua equipe, incluindo o filho Carlos Jr., que dirige a holding da família; seu sobrinho Héctor Slim, ceo da Telmex, seu genro Danny Hajj, que dirige a América Móvil; e outro genro, Arturo Eliás, que é o porta-voz de Slim. Do outro lado da mesa estavam Téllez, Villar e duas testemunhas, especialistas. O presidente se sentava na curva do U. Villar, cujos esforços para disciplinar a Telmex podem ser vistos como evangélicos, e apresentou as demandas do governo. “Iremos deixá-los operar na tevê, Carlos Slim, mas primeiro temos que chegar a uma série de acordos”, disse Villar. Os termos incluíam taxas de interconexão razoáveis, redução do preço das ligações de longa distância, comparti-lhamento da infraestrutura da Telmex e eliminação da prática de arrendondar o valor de uma ligação para o minuto cheio. Os rendimentos que o império de Slim perderia caso concordasse em fazer tais concessões excediam, em muito, o valor de todo o mercado de televisão no México.
Em resposta, a equipe de Slim apresentou cifras sugerindo que as taxas de interconexão no México eram competitivas em relação às de outros países. Quanto a abrir a infraestrutura da Telmex, a equipe de Slim argumentou que tal estratégia havia sido tentada nos Estados Unidos, após a dissolução da at&t, e o resultado foi uma diminuição de investimentos em equipamentos.
Por duas horas e meia, os participantes se engajaram numa feroz discussão, a tal ponto que o presidente teve que pedir que se acalmassem. Segundo três dos participantes, Slim estava tão zangado que ameaçou vender a Telmex. O empresário nega ter dito exatamente isso: “Eu disse: ‘Me digam o que vocês querem. Se querem que eu venda, tudo bem. Se querem que eu a divida em duas ou três partes, tudo bem.'” Ele acrescentou: “A única coisa que não iremos fazer é destruir a Telmex.”
A reunião terminou num empate. Apesar da resistência do governo, Slim logo encontrou uma forma de permitir à Telmex entrar nos serviços de televisão, por meio de um acordo comercial com uma provedora de serviços de satélite, mas ainda não pode transmitir por conta própria. Isso irá mudar, ele me garantiu, “mais cedo do que tarde”.
***
Denise Dresser é escritora e professora de ciências políticas no Instituto Tecnológico Autônomo do México, e uma das colunistas mais famosas do país. Passou anos estudando e trabalhando em Los Angeles, e retornou à terra natal em 2002. “Resolvi estudar por que a economia local não crescia”, ela me contou. “Isso me levou a Carlos Slim.”
Dresser é delicada e precisa, e afirma ter sido “a maior nerd” da escola. No retorno à Cidade do México, ela e o marido quiseram instalar o mesmo sistema de telecomunicações que tinham em Los Angeles – quatro linhas de telefone fixo, duas de fax, dois celulares. Ficaram surpresos ao descobrir que o sistema ali custava três vezes mais.
Dresser se pôs a escrever uma série de artigos altamente negativos sobre Slim e seu efeito na economia mexicana. Até então, Slim havia sido pouquíssimo criticado publicamente. Os artigos de Dresser atingiram muitos leitores, que a ajudaram a montar um dossiê contra o empresário. “Ele comprou um monopólio e transformou-o num império”, ela escreveu em 2005, no jornal Reforma. “Carlos Slim possui o melhor negócio do mundo e o consumidor mexicano, um dos piores.”
Depois de alguns desses ataques, Slim convidou Dresser para uma reunião em seu escritório. Ela ficou nervosa e preparou algumas anotações. Sentou-se à mesa da sala de jantar. Slim perguntou se ela queria algo para beber. “Quero um copo de água mineral com gelo”, respondeu. O empresário desapareceu pela porta da cozinha e voltou com uma garrafa de água. Dresser ficou desconcertada com sua informalidade. “Eu estava esperando um copo numa bandeja com um guardanapo”, ela disse.
“Então”, disse Slim. “Você não gosta de mim.”
“Eu não conheço você”, ela respondeu, acrescentando: “Você parece mais magro do que nas fotos.”
Dresser sacou suas anotações. Disse a Slim que a Telmex era uma empresa moderna, graças a seus esforços, mas os preços eram altos demais. A falta de concorrência e o alto custo das telecomunicações estavam obstruindo o progresso e inibindo as inovações. Se ele competia muito bem em outros países, então por que não encorajava ali a competição, em vez de impor obstáculos?
“Você entende de números, não?”, perguntou Slim, jogando uma pilha de documentos a sua frente.
“Não esperava que ele fosse tão rude”, ela lembra. “Quando me empurrou aqueles papéis, tive vontade de chorar. Disse: ‘Não fale assim comigo! Não sou sua esposa, nem sua filha, nem sua funcionária! Sou cidadã mexicana e tenho meus direitos! Vim para falar sobre o que é melhor para o México.'”
Segundo a jornalista, Slim abrandou imediatamente. Ela revisou seus tópicos, dizendo que ele havia se tornado a figura emblemática do capitalismo de compadres no México. “Ele não entendeu o termo”, ela disse. “Era como se nunca tivesse ouvido esses argumentos antes.”
“Então você quer que eu me desfaça de minhas participações no mercado”, ele resumiu.
“Não, quero que o bolo cresça”, a jornalista respondeu. “Talvez seu pedaço fique menor, mas o bolo será maior para todos.” Então ela pediu que Slim se tornasse “o Bill Gates mexicano”, doando uma parte significativa de sua fortuna. (Até hoje, Gates doou 27 bilhões de dólares para obras de caridade.) Slim e Dresser conversaram por duas horas, e depois ele a acompanhou à porta. “Eu respeito você”, disse o empresário.
***
Slim já havia fundado inúmeras organizações beneficentes, embora tenha me confessado: “Não acredito muito em caridade. Ela pode torná-lo mais popular, mas você não resolve nenhum problema.” Além do museu de arte, ele criou a Fundação Telmex e a Fundação Carlos Slim, que têm poderes bastante difusos. Por meio da Fundação Telmex, doou cen-tenas de milhares de computadores a escolas públicas, quase 200 mil bolsas de estudos, 78 mil pares de óculos, 200 mil bicicletas e custeou 400 mil cirurgias; também patrocina mais de 100 mil times de futebol. A Fundação Carlos Slim doou, por meio da fundação de Bill Gates, 100 milhões de dólares para reduzir a pobreza na América Latina; e 110 milhões a uma fundação afiliada à estrela pop Shakira, que ajuda as crianças latino-americanas. Slim também levantou fundos para pagar a fiança de prisioneiros pobres que cometeram crimes insignificantes.
Esses esforços não impressionaram Dresser. “O que ele doa com uma mão não se compara ao que ele toma com a outra”, justificou. Em março, Slim anunciou que iria doar a suas fundações 6 bilhões de dólares em ações. Dresser também não se deixou amolecer. “O simples fato de que o dinheiro está amarrado aos empreendimentos dele me parece um exemplo de baixeza de espírito”, ela afirmou.
Algumas das doações de Slim têm mesmo a aparência de interesse. Em 2004, o empresário fez um acordo com o governo: a Cigatam e outras companhias de cigarros doariam ao Ministério da Saúde 9 centavos por maço vendido. O valor seria destinado a programas de saúde pública relativos a doenças provocadas pelo fumo. Isso colocava o Ministério na embaraçosa posição de depender, em parte, da venda de cigarros para levantar fundos. O arranjo foi posto de lado.
***
Em 2000, autoridades federais e municipais pediram que Slim tomasse para si a renovação do centro histórico da Cidade do México, que nunca havia se recuperado do terremoto de 1985. Muitos belos edifícios do século xvi estavam severamente danificados. Lojas e comércios abandonaram o local, deixando-o nas mãos de ladrões, prostitutas e drogados. Quinze anos de uma atitude governamental corrupta e indiferente tornaram a área desolada e perigosa. A resposta de Slim ilustra sua postura com relação à assistência social. Ele comprou inúmeras propriedades e as reformou para servirem como apartamentos, que ofereceu a seus funcionários a um aluguel baixo. Como é comum nos empreendimentos de Slim, as reformas não foram muito elaboradas, mas tinham bom gosto. Logo outros incorporadores acorreram à área. Surgiram restaurantes, cafeterias e clubes de jazz. Os turistas voltaram. Novos empregos foram criados. O valor das propriedades aumentou, assim como a conta bancária de Slim.
Em sua casa, Slim me mostrou as fotografias de uma festa de aniversário recente. Ele havia acabado de completar 69 anos de idade e estava cercado de amigos, filhos e netos. Nas fotos, vestia uma fantasia completa de Elvis, que incluía um par de óculos escuros adornados com jóias e uma guitarra exagerada de plástico. Parecia mesmo feliz.
Em outubro de 1997, Slim viajou a Houston para trocar uma válvula cardíaca. “Não era uma emergência”, ele conta, mas após a cirurgia a nova válvula se rompeu e ele sofreu uma hemorragia grave. “Precisei de 130 bolsas de sangue”, conta. Ficou em Houston para se recuperar. Pouca gente sabia da cirurgia, mas, seis semanas depois, um jornal mexicano divulgou a notícia de que Slim havia morrido de ataque cardíaco. Os preços das ações de suas empresas caíram momentaneamente.
Os filhos de Slim já ocupavam postos de autoridade no império familiar, mas, depois da cirurgia, ele abandonou completamente o controle das operações corriqueiras das empresas. “Meu trabalho é pensar”, ele gosta de repetir. Enquanto isso, passa mais tempo com a família. Todas as segundas-feiras organiza um jantar para o enorme clã e, nos fins de semana, eles costumam se reunir para assistir a esportes na televisão. Como os Sulzberger, os Slim claramente pretendem manter o império em família.
Enquanto olhávamos as fotos da festa, perguntei a Slim por que ele havia investido no Times. “Achamos que é o melhor jornal”, foi a resposta. “Acreditamos em conteúdo de mídia. Achamos que o jornal vai desaparecer, mas não o conteúdo. Este será ainda mais importante.” Perguntei se ele lia o Times. “Só quando estou nos Estados Unidos”, confessou.
Durante nossas conversas, o empresário afirmou repetidamente que não estava interessado em produzir conteúdo. “Estamos no negócio de distribuir conteúdo”, afirmou, enfatizando que não tinha a intenção de ser o futuro dono do Times. “Se eu quisesse comprar um jornal, o teria feito cinquenta anos atrás.” Quando o pressionei a contar o que faria caso o jornal declarasse falência, ele se recusou a admitir tal possibilidade.
Durante a minha mais recente visita ao México, o presidente Barack Obama visitou o país. Em 16 de abril, Slim, juntamente com centenas de mexicanos proeminentes, participou de um jantar em homenagem ao presidente. Obama pediu a Slim que o visitasse da próxima vez que fosse a Washington. Segundo Enrique Krauze, que estava na mesa do empresário, o presidente disse: “Fale com Larry Summers antes de ir embora, pois precisamos de um conselho seu.” (Summers, diretor do Conselho Nacional de Economia, também estava presente.)
Slim falou com Summers e, embora o conteúdo da conversa seja privado, ele me garantiu que “esta é a mesma crise de 2000 e 2001”. Na opinião de Slim, tanto Bush como Obama não conseguiram reagir com os incentivos certos para lidar com ela. Sua receita é: “Primeiro, estabilizar o sistema financeiro. Em vez de falar de ativos tóxicos e outros investimentos, deveriam recapitalizar os bancos através do setor público, usando obrigações conversíveis ou ações preferenciais.” Isso traria o mercado de crédito de volta ao normal, o que é essencial. “Crédito, e mais crédito – não se pode parar o crédito!”, ele exclamou. “O crédito é o contato com a verdadeira economia.”
“Certa vez, um empresário me perguntou: ‘Como você decide onde investir? Pela relação preço-lucro ou pelos ativos?'”, lembrou Slim. “Eu respondi: ‘Pelo potencial de lucro. Eu invisto no longo prazo, e não no curto prazo. Se você compra algo só porque é barato, isso não passa de especulação.'” Ele agora se concentra no desenvolvimento e infraestrutura de propriedades, e em fazer investimentos na rede de telecomunicações 3G da América Latina. Espera emergir da crise, quando ela terminar, com uma posição de mercado significativamente maior no México e mundo afora. Investir agora lhe dará vantagem sobre os concorrentes que se retraíram ou que não têm liquidez para aproveitar a situação.
Sob essa ótica, o investimento de Slim no Times é uma aposta a longo prazo no valor do ramo jornalístico. “Acredito que informação e conteúdo serão importantes em nossa nova civilização”, ele afirma. Se, confirmando a crença de alguns observadores, o Times emergir da crise como uma das principais fontes de notícias em inglês, então Slim se encontrará numa posição bem conhecida: investindo o dinheiro em um monopólio.