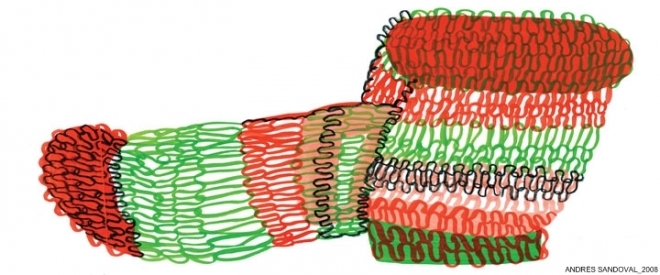O Estado de S.Paulo
11 de Janeiro de 2009
ANTOLOGIA PESSOAL
Vanessa Barbara, jornalista e escritora
“Não gosto do hábito de se levar muito a sério”
Nascida em São Paulo, em 1982, Vanessa Barbara é jornalista e tradutora. Além de colaborar com a revista Piauí, é colunista do Estado. Edita o almanaque virtual A Hortaliça (www.hortifruti.org), no qual se entrega aos trocadilhos tolos e fala da conduta absurda. É autora de O Livro Amarelo do Terminal e O Verão do Chibo, ficção escrita com Emilio Fraia.
Que livro você mais relê?
Histórias de Cronópios e de Famas, de Julio Cortázar, que tem um humor melancólico cheio de poesia e animaizinhos imaginários.
Dê exemplo de um livro muito bom mas injustiçado.
Todos os livros do Campos de Carvalho (A Lua Vem da Ásia, A Chuva Imóvel, O Púcaro Búlgaro e A Vaca de Nariz Sutil), que são muito estranhos, mas ninguém presta atenção. Ele já começa com: “Aos 16 anos, matei o meu professor de lógica. Invocando a legítima defesa – e qual defesa seria mais legítima? – logrei ser absolvido por cinco votos contra dois, e fui morar sob uma ponte do Sena, embora nunca tenha estado em Paris.”
Cite um livro que frustrou suas melhores expectativas.
Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez. Fora a parte em que a moça come cal da parede, não gostei muito.
E um livro surpreendente, ou seja, bom e pelo qual você não dava nada.
História Universal da Infâmia, de Jorge Luis Borges. Não é que eu não desse nada pelo livro, mas porque o escolhi por acaso (a capa era bonita) e não fazia ideia de que seria tão bom. O próprio Borges o trata como uma coletânea de exercícios literários e confessa alguns de seus vícios: as enumerações díspares, a brusca solução de continuidade, a redução da vida inteira de um homem a duas ou três cenas.
A boa literatura está cheia de cenas marcantes. Cite algumas.
Uma delas é a cena do Tristram Shandy, do Laurence Sterne (capítulo 11 do livro 3), em que, por conta da dificuldade de abrir uma sacola, um personagem esconjura o outro apenas por ter feito nós demais. É uma enorme imprecação em latim, totalmente desproporcional ao incidente: “Maldito seja no seu cérebro e no vórtice, nas têmporas, na fronte, nos ouvidos, nas sobrancelhas, nas faces, na mandíbula, nas narinas, nos dentes incisivos e molares”, que dura cinco páginas.
Que livro bom lhe fez mal, de tão perturbador?
Hercólobus ou O Planeta Vermelho, de V.M. Rabolú. É um livro que fala sobre um cataclismo que está por vir: a colisão do planeta Hercólobus que segue em direção à Terra. Em Hercólobus, os nativos usam cinturões cheios de “botões vermelhos, azuis e amarelos que acendem e apagam como um farol. Quando se veem em perigo, apertam um botão-mãe capaz de fazer voar uma colina e desintegrá-la no céu”…
E que livro mais o fez pensar?
A Outra Volta do Parafuso, de Henry James. Me fez pensar em acender todas as luzes, ligar a televisão e esquecer aquela história, que é muito assustadora.
De qual autor você leu tudo?
Julio Cortázar e J. D. Salinger. Ambos escrevem com um ritmo diferente, sem presunção e sem ignorar o lado bizarro das coisas.
Existe algum autor com o qual você jamais perderia seu tempo?
Sim, com os espíritos que psicografam livros como Violetas na Janela e Tempo de Colher Melões, principalmente o espírito Lucius, que não tem senso de estrutura, personagem e unidade aristotélica.
Cite um livro que foi fundamental em sua formação, mesmo que hoje você não o considere tão bom como na época em que o leu.
Na adolescência, li a obra completa (80 livros) da Agatha Christie. Um dos meus preferidos era O Inimigo Secreto, que aparentemente tem os personagens mais chatos da história do crime. Outro importante para a minha formação foi Germinal, de Zola, em que eu chorei no final. Na mesma época li As Vinhas da Ira, de Steinbeck, foi uma fase muito otimista.
Os livros de autoajuda são mesmo todos ruins, ou isso é puro preconceito da crítica?
Gosto de Ser Feliz, de Will Fergunson. É sobre um editor de livros que prepara a publicação de uma obra de autoajuda perigosamente persuasiva e abrangente. O livro estoura na lista de mais vendidos e uma epidemia de felicidade se espalha pela Terra. Ser feliz é uma obra de antiautoajuda, que nos livra desta abominável ânsia por contentamento com um sarcasmo muito peculiar.
Um livro que você acha que deve ser muito bom, mas jamais leu.
A Consciência de Zeno, de Ítalo Svevo. A média de pessoas que vem me procurar para sugerir o livro é de 3,5/dia, portanto ele assumiu um lugar de honra na pilha de próximos.
Um livro difícil, mas indispensável.
Estou lendo Ulisses, de James Joyce, mas por tabela. Dois amigos estão fazendo uma leitura minuciosa e bilíngue do livro, então toda semana eu pergunto o que aconteceu com o sr. Bloom, o que ele comeu, se já escureceu e leio os trechos selecionados.
Um livro que começa muito bem e se perde no caminho.
A Bíblia. O começo é eletrizante, com histórias de poder, luxúria, paixões incandescentes, ambições desmedidas, crimes hediondos e sexo. Tem um capítulo sobre uma mulher que dá à luz um filho cujo pai é uma pomba. Aí depois perde um pouco, sabe? Aquela coisa de quatro cavaleiros do Apocalipse nunca me convenceu.
Um livro que começa mal e se encontra.
Os Irmãos Karamázov, de Dostoiévski. Não que comece mal, mas eu demorei para engrenar – quando engrenei, levei comigo para a praia, se é que é permitido levar um Dostoiévski para a praia.
Um livro pior do que o filme baseado nele.
Tubarão, de Peter Benchley, dirigido pelo Spielberg. Dizem que os livros B dão ótimos filmes, como Blade Runner.
Que livros que contrariam suas convicções, mas são imprescindíveis?
Dom Quixote, de Cervantes, e Cândido, de Voltaire, contrariam minhas profundas convicções de que não se deve contar a história inteira no subtítulo dos capítulos, por exemplo: “Das admiráveis coisas que o extremado Dom Quixote contou que vira na profunda cova de Montesinos, coisas que, pela impossibilidade e grandeza, fazem que se considere apócrifa esta aventura”, ou “O que sucedeu aos dois viajantes em relação a duas moças, dois macacos, e aos selvagens chamados orelhões”.
Cite exemplos de livros assassinados pela tradução e exemplos de boas traduções.
Eu até gosto das más traduções, às vezes dão outro sabor ao livro. Cresci lendo livros antigos que não respeitavam a reforma gramatical de 1971 e usavam acento diferencial (A Menina do Capuchinho Vermêlho), e outros tinham traduções tão ruins que o livro se tornava pitoresco. Meus preferidos de hoje são o Sergio Flaksman e o Paulo Henriques Britto.
Que livros sempre presentes nos cânones que não mereceriam seu voto? E ausentes nos quais votaria?
Não gosto de Clarice Lispector nem de Rubem Fonseca. Os cronistas são muito injustiçados – acho clássicas algumas crônicas de Rubem Braga, Drummond, Otto Lara Resende, Paulo Mendes Campos, Luis Fernando Verissimo.
De que livro demolido por críticos você gostou?
O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Não é exatamente um livro demolido pela crítica, mas não é bem visto por muita gente.
Cite um vício literário que você considera abominável.
Não gosto da presunção, do hábito de se levar muito a sério. “Quem nos resgatará da seriedade?”, pergunta Julio Cortázar num artigo de A Volta ao Dia em 80 Mundos. O artigo fala desse vício de escritores: assumir a solenidade de quem habita no Louvre tão logo se põe a escrever, com uma ruga de amarga experiência humana, endurecendo o pescoço e subindo ao ponto mais alto do guarda-roupa.